“O que é identitarismo?”, um ano depois
Douglas Barros realiza um balanço dos debates travados um ano após o lançamento de "O que é identitarismo?".

Da esquerda à direita: Ana Paula Rocha, Douglas Barros, Rita von Hunty e Manuela D’Ávila durante o debate “Identitarismo e luta de classes“, parte da programação da Festa de Aniversário do Marx em São Paulo, ocorrida em maio de 2025. Foto: Caroline Oliveira/Brasil de Fato
Por Douglas Barros
A primeira vez que me deparei com a noção de “hipotético-leitor” foi numa obra cativante, curta e, ao mesmo tempo, poderosa, chamada O carteiro e o poeta, de Antonio Skármeta. Nela, deparamo-nos com um narrador bem-humorado que nos aproxima de um encontro curioso entre Pablo Neruda e um carteiro, cuja missão é entregar ao poeta missivas e novidades de além-mar. O pano de fundo é a ditadura de Pinochet, que ressoa como sombra diante do encontro iluminado. O livro é belíssimo, e o que dele recolhi, quase como quem rouba um pingente sem valor, foi a noção de “hipotético-leitor”.
Outro Antonio, também sem circunflexo, mas cândido, dizia, numa obra de tempos atrás que o tensionamento da escrita é remexido pela construção de um leitor. Trocando em miúdos, todo autor também cria o seu leitor. Imaginário e especulativo, trabalha-se em torno de um leitor mais ou menos ideal, de modo que somos obrigados a imaginá-lo. Sem esse trabalho da imaginação, o autor torna-se um tanto solipsista, ensimesmado e lacônico. Torna-se um crítico de si mesmo, cuja neurose castra o ofício prazeroso da escrita.
Tenho, aliás, vários amigos que, de tão críticos, assemelham-se às personagens castradas de Jorge Luis Borges: escrevem e reescrevem o mesmo parágrafo por meses para depois abandonar a escrita e chorar no bar sua incapacidade. De minha parte, escrevo como um pichador, com um ímpeto que me faz investir no papel quase toda a minha libido. Não consigo deixar de escrever, assim como não consigo deixar de imaginar meu hipotético-leitor. E isso vale tanto para a ficção quanto para a não ficção. Continuamente hostilizado por me verem como alguém de escrita obscura, fico feliz. Não por me acharem obscuro, mas por ter certeza de que não sou. Sempre me pergunto: esse povo já leu Kant, Fichte ou Hegel?
Se faço essa pergunta é porque, cada vez mais, meu hipotético-leitor deixa de sê-lo. Cada vez mais, ele ganha corpo. É a ele que me dirijo em forma de agradecimento. Um ano depois de lançar O que é identitarismo?, posso constatar, sem dúvida, seu sucesso junto ao hipotético-leitor para o qual foi escrito. Na época da pseudoautenticidade autoficcional, para lembrar Kornbluh, não resisto ao perigo de me dirigir a ele na primeira pessoa. Eu me implico com ele.
Com três reimpressões já feitas, o livro caminha para as dez mil cópias vendidas. “Superei” meu mestre alemão, que levou oito anos para esgotar a primeira tiragem de 800 cópias da Fenomenologia do Espírito. Com certeza, superei-o quantitativamente, porque provavelmente serei esquecido antes dele. A velha dialética: quantidade-qualidade. Que besteira! O fato é que esse pequeno sucesso me fez viajar por várias cidades e olhar nos olhos de vários leitores que deixaram de ser hipotéticos.
Lembro que logo após o lançamento, fui hostilizado pelo famoso “não li e não gostei”, comum à época em que a aceleração tolhe nossa possibilidade de mediação. Na medida, porém, em que os debates foram sendo incorporados à discussão, o caminho foi se aplainando, e as críticas que vieram depois foram consolidando uma nova perspectiva sobre o tema: o identitarismo.
Se antes o identitarismo era visto como um ato conscientemente escolhido, com os debates travados ao longo de um ano o termo passou a ser compreendido como o resultado de uma transformação radical da vida social no capitalismo hipertardio. Se antes era imediatamente lançado na conta dos movimentos sociais (negros, LGBTQIAP+ ou feministas), com o amadurecimento de nossos debates passou a ser entendido como um sequestro de pautas legítimas e seu adestramento à lógica do mercado.
Tal conclusão vinha acompanhada do risco evidente de não levar em consideração o engajamento de vários setores da esquerda — sobretudo do setor hegemônico — na prática identitária, prática que reforçava a defesa de posições deletérias como o “lugar de fala”. Assim, se por um lado era necessário compreender o identitarismo como um resultado lógico da gestão do capitalismo de crise, por outro foi-me necessário reforçar, muitas vezes, o empenho do progressismo brasileiro na manutenção dessa armadilha.
Ainda é muito comum encontrar o apelo à autenticidade identitária, marcado por um certo heideggerianismo muitas vezes inconsciente. Temo, aliás, que esse apelo não desapareça enquanto permanecermos inscritos numa relação social baseada num processo de gestão em que as identificações forjadas pelo controle estatal-mercadológico constroem identidades estimuladas e engajadas no processo de autocontrole repressivo de si.
Cada vez mais — sobretudo quando o velho fascismo sai do bueiro com uma cara nova — vemos difundir-se a ideia de que haveria uma essência racial ou cultural a ser reencontrada. O exercício óbvio é o de repor a perspectiva da exclusão da diferença: a estabilização de uma identidade desinfetada do outro, sempre visto como ameaça. Nada ilustra melhor esse processo do que a caça a imigrantes que ocorre, enquanto escrevo, nos EUA.
Marcado por retornos nostálgicos ao mito do bom selvagem rousseauniano, o identitarismo também segue floreando os discursos progressistas. O antagonismo social, organizado em bases materiais, muitas vezes continua sendo ignorado, de modo que sua causa se reduz à luta das identidades. Ainda assim, é fato que, cada vez mais, a luta de classes se anuncia nas mobilizações que emergem aparentemente do nada, como ocorreu, no ano que passou, com a luta contra a escala 6×1.
Talvez haja ainda algo curioso em O que é identitarismo?, e que os leitores estão aos poucos revelando: sua crítica às formas de sociabilidade após a revolução comunicacional. Esse presente se alarga à medida que o tempo corre acelerado. E o fato é que, quanto mais a aceleração tecnológica avançou, mais trabalho se acumula e menos tempo livre nos sobra.
A aceleração da vida social e sua virtualização — a conexão permanente — romperam nossos laços com os espaços compartilhados de modo comum. O isolamento tornou-se norma, e até mesmo os lugares que antes orientavam as expectativas de milhares de pessoas (universidades, escolas, indústrias, lojas, hospitais, hotéis e igrejas) transformam-se agora em cenários sem memória, sem história, cada vez mais planos e homogeneizados. Práticos e utilitários.
Nos dessensibilizamos, marcados pela lógica narcísica de um Eu flexível e competitivo; buscamos grupos que ofereçam apreço ao nosso próprio reflexo e, assim, somos guiados pelos algoritmos, que colocam na tela aquilo que queremos ver. O resultado é um identitarismo organizado em bolhas virtuais de afinidades eletivas.
Do ponto de vista subjetivo, há uma regressão do investimento no Eu, que se recusa a lidar com o Outro. A diferença, a negatividade e a contradição passam a ser percebidas como algo insuportável. Queremos ter no nosso campo de visão só aquilo pelo qual nos identificamos e o smartphone nos cativa.
Enfim, isso mostrou que os debates e os retornos por parte dos leitores ultrapassaram o tema central proposto pelo livro. Cada vez mais, passaram a investigar as causas, refletindo sobre os efeitos. Fiquei particularmente contente ao saber que, na UFRJ, um grupo de estudos tem se dedicado a analisar aquilo que, ironicamente, chamei de ontologia do ser neoliberal, a partir das inspirações suscitadas pelo livro.
Quando comecei a escrever esse livro, tinha plena certeza de que as porradas viriam de todos os lados. Aliás, o número de bons camaradas que insistiam em dizer tratar-se de um falso problema quase me fez recuar do empenho… quase. As porradas vieram, é verdade, mas foram muito menos contundentes do que minha fantasia previa; na maioria das vezes, não passaram da velha desonestidade caricata que prolifera nas redes sociais, esse teatro de má-fé, diante do qual o riso basta para dissolver qualquer afronta.
E foi com esse riso que visitei Londrina, Curitiba, União da Vitória, Rio de Janeiro, Campinas, Maceió, Recife, Campina Grande, Belo Horizonte, Mogi das Cruzes, São Paulo… entre outras cidades que a memória me faz esquecer. Foi também com sorriso no rosto que participei da cerimônia do Jabuti Acadêmico deste ano, pois o livro se tornou finalista. E, com riso no rosto, cumprimentei um amigo que me dava vivas por eu não tê-lo ganhado. Os canapés e o vinho estavam bons, ao menos.
Por fim, quero agradecer a todas as pessoas com quem brindei, conversei, dialoguei, discuti. A todos os leitores que vieram até mim e aos que permaneceram distantes, meu obrigado. Aos críticos honestos e raros, minha admiração. Aos departamentos universitários e às escolas de psicanálise que sempre me acolheram com calor e afeto, minha gratidão. E, sobretudo, aos amigos: o que seria de mim sem vocês? Amo cada um de vocês. Vocês sabem que sou exagerado porque verdadeiro, e verdadeiro porque exagerado.
Não poderia deixar também de agradecer à editora Boitempo e a toda a equipe que trabalhou em torno do livro. Foi na Boitempo que, no sentido balzaquiano do termo, tive pela primeira vez a sensação de ter me tornado um autor. A seriedade da equipe, assim como a abertura para a escuta, as reuniões para pensar desde a capa até o lançamento, o rigor do processo de edição e o respeito pelo trabalho autoral são coisas raras no mundo editorial.
Dedico também este pequeno texto, meio balanço, meio celebração, à memória de Asad Haider, que partiu antes do combinado, deixando uma ausência que ecoa em cada página do livro, e que foi, sem dúvida, um dos críticos que mais me deram coragem ante o silêncio de boa parte da esquerda radical.
Hoje, diante do genocídio em Gaza, cometido em nome de uma pureza étnico-religiosa, sentimos a urgência de ampliar nosso entendimento sobre o identitarismo. E só o faremos juntos, coletivamente, porque compreender e enfrentar essa lógica é tarefa que não cabe a um só. É uma luta compartilhada. E já foi dito: “Sem teoria revolucionária, não há ação revolucionária”.
Beijos e até ano que vem!
***
Douglas Rodrigues Barros é psicanalista e doutor em ética e filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Professor filiado ao Laboratório de experiências coloniais comparadas, ligado ao Instituto de História da Universidade Federal Fluminense (UFF). Professor na pós-graduação em filosofia da Unifai. Investiga principalmente a filosofia alemã conjuntamente com o pensamento diaspórico de matriz africana e suas principais contribuições teóricas no campo da arte e da política. Pela Boitempo, publicou O que é identitarismo? (2024). Escritor com três romances publicados, também é autor dos livros Lugar de negro, lugar de branco? Esboço para uma crítica à metafísica racial (Hedra) e Hegel e o sentido do político (lavrapalavra).
O que é identitarismo?, de Douglas Barros
Na última década, um termo tem se proliferado de maneira espantosa no discurso político. Moralmente carregado e lançado a torto e a direito em disputas de internet, mesas de bar, espaços acadêmicos e palanques políticos. Mas, afinal, o que é identitarismo? Na interpretação original do psicanalista Douglas Barros, o termo nomeia sobretudo uma forma de gestão da vida social contemporânea que engole esquerda e direita. Com um olhar da periferia do capitalismo sobre a colonização, Douglas revisita, pelo prisma da identidade, o surgimento e desmonte do sujeito, do Estado e do capitalismo modernos para jogar luz sobre os impasses da política contemporânea.
Descubra mais sobre Blog da Boitempo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

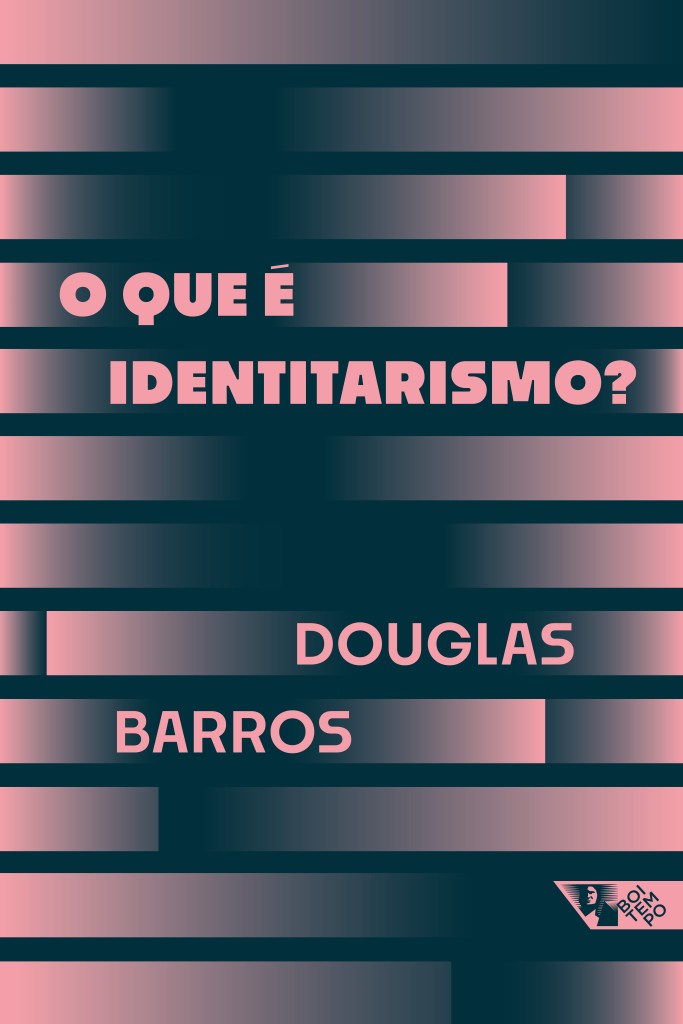
Deixe um comentário