O momento desintegralista

Plinio Salgado e membros do movimento Integralista. Imagem: Wikimedia Commons
Por Thales Fonseca
1
Às vésperas do último ano do governo Lula III, uma coisa parece inegável: a consagração do atual presidente brasileiro como aquele que, na história recente, se mostrou a ator político mais apto a engessar a fratura social brasileira. A metáfora, por óbvio, deve ser tomada em sua integralidade: se por um lado o gesso se constitui numa terapêutica contra a desarticulação geralmente decorrente de um trauma, o preço a ser pago por tal remédio é uma severa imobilização.
Neste ensaio, pretendo lançar uma luz focalizada sobre alguns pontos que, a meu ver, vêm enformando os destinos da Nova República. Em primeiro lugar, parto da hipótese de que, apesar da mudança conjuntural decorrente da derrota de Jair Bolsonaro em 2022, a situação histórica que a estrutura segue a mesma. Isso não significa reduzir tudo a uma grande noite em que todos os gatos são pardos: claro que há descontinuidade entre os governos, a começar pelo fato de que, se por um lado Lula representa uma intervenção ortopédica, Bolsonaro mais se assemelhava a uma fratura exposta. Tal diferença, aliás, é instrutiva, à medida que a verdade do que continua de modo sub-reptício entre ambos vem à superfície e torna-se visível no governo do militar reformado, no qual se assistiu a uma espécie de convergência autonomizada entre superestrutura e infraestrutura do capitalismo.
Com isso em mente, gostaria de propor aqui a noção de desintegralismo enquanto epíteto que – além de dar uma oportunidade para glosar, não sem ironia, a farta associação entre o bolsonarismo e o fascismo brasileiro dos anos 1930, também conhecido como Integralismo – parece-me mais adequado para caracterizar as especificidades do fenômeno político em questão. Isso porque, uma tal nomeação engendra mais que mero trocadilho: ela dá relevo à certa novidade, se lembrarmos da histórica unidade política que caracteriza a formação do “povo brasileiro”, conquistada, no mais das vezes, na base da violência nua e crua. Sobre esse processo de unificação violenta que nos constituiu (enquanto “proletariado externo” das nações colonizadoras, diga-se de passagem), vale citar um trecho da obra clássica de Darcy Ribeiro:
“Aquela uniformidade cultural e esta unidade nacional – que são, sem dúvida, o grande resultante do processo de formação do povo brasileiro – não devem cegar-nos, entretanto, para disparidades, contradições e antagonismos que subsistem debaixo delas como fatores dinâmicos da maior importância. A unidade nacional, viabilizada pela integração econômica sucessiva dos diversos implantes coloniais, foi consolidada, de fato, depois da independência, como um objetivo expresso, alcançado através de lutas cruentas e da sabedoria política de muitas gerações. Esse é, sem dúvida, o único mérito indiscutível das velhas classes dirigentes brasileiras. Comparando o bloco unitário resultante da América portuguesa com o mosaico de quadros nacionais diversos a que deu lugar a América hispânica, pode se avaliar a extraordinária importância desse feito. […] Nessas condições, exacerba-se o distanciamento social entre as classes dominantes e as subordinadas, e entre estas e as oprimidas, agravando as oposições para acumular, debaixo da uniformidade étnico-cultural e da unidade nacional, tensões dissociativas de caráter traumático.”1
Quando Jair Bolsonaro contrariou nossa tendência histórica à integração, foi dessas tensões dissociativas e traumáticas – em uma expressão clássica: luta de classes – que ele se alimentou. Lembremos como sua campanha se resumia à afirmação vaga de uma necessidade radical de mudança, de modo que o caráter aparentemente negativo de seu projeto parecia reagir de maneira muito sintonizada às demandas de uma população que poucos anos antes, em Junho de 2013, ocupou as ruas entoando um mantra igualmente negativo: “não são 0,20 centavos!” expressava que a mobilização popular ultrapassava a pauta sobre o aumento da tarifa do transporte coletivo (ligada ao Movimento Passe Livre) que deu início à sublevação, mas também denunciava que seus próprios partícipes não conseguiam mapear exatamente de onde emanava sua indiscutível insatisfação, menos ainda era capaz de encaminhar estratégias para a sua resolução. Porém, como se sabe, no caso da política desintegralista de Bolsonaro, não se tratava de tornar as tensões sociais consequentes com seu potencial de ruptura (ainda que um “8 de Janeiro” não possa ser ignorado), mas de desativá-las de vez, direcionando o país à autodissolução.
2
Mas se até aqui me referi ao desintegralismo como uma “noção”, um “epiteto”, um “nome”, devo dizer que a categoria que lhe empresta lastro teórico é a de populismo. Desintegralismo, nesse sentido, remete a um capítulo específico do que poderíamos chamar de populismo oligárquico brasileiro: este sim capaz de ser aplicado indistintamente a Bolsonaro e Lula. À primeira vista uma franca contradição entre termos, eu gostaria de propor que o referido oxímoro, enquanto expressão do que há de mais paradoxal na matéria brasileira contemporânea, torna evidentes alguns impasses inerentes ao que Ernesto Laclau formalizou como razão populista2. Isso me permitirá constituir um contraponto que não se confunda com a velha vulgata liberal esclarecida que por muito tempo predominou na apreciação avessa ao populismo no Brasil. Pelo contrário, sou da opinião de que encontramos, no que concerne ao populismo, uma manifestação quase didática do ponto de vista “privilegiado” possibilitado por nossa condição periférica, o qual nos permite antecipar tanto o fracasso da aposta populista em seu objetivo de produzir mudanças sociais radicais, quanto a debilidade de seu contraponto liberal, cujo embate só agora tornou-se “moda” nas sociedades capitalistas centrais. Mais que isso: com a estranha unidade entre contrários que o nosso populismo oligárquico encerra, é possível enxergar com nitidez o quanto as posições de tal embate se conformam à lógica pendular que é típica do cinismo ideológico contemporâneo3, no qual o movimento incessante que vai de um polo ao outro tem como verdadeiro objetivo conservar o mesmo centro de gravidade. Não é isso que se encontra, enfim, na recente discordância entre Chantal Mouffe4 e Seyla Benhabib5? Afinal, apesar de as duas intelectuais tomarem partidos claramente opostos no que tange ao populismo, ambas o fazem argumentando em favor da manutenção das chamadas instituições democrático-liberais.
Nesse caso, a virtude do enraizamento periférico me possibilita dispensar a costumeira dissecação conceitual do populismo, tal como o figurino da crítica acadêmica recomenda, visto que a própria análise concreta da situação concreta da racionalidade populista em nosso país – e, nisso, considero que Laclau, enquanto um argentino admirador de Perón, apreendeu corretamente a lógica populista que deu o tom da forma-política própria à modernização truncada dos países latino-americanos – já é suficiente para lançar luz sobre seus impasses de maneira mais satisfatória aos objetivos deste ensaio que uma discussão puramente conceitual.
Aqui, um episódio pontual de nossa conjuntura pode ser tão ilustrativo quanto instrutivo do argumento. Na mesma semana em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fachin, decidiu por anular a condenação de Lula (anulação que posteriormente seria confirmada em votação com os demais ministros), o então presidente Jair Bolsonaro, contrariando o seu habitual comportamento negacionista no que se refere à pandemia do coronavírus, apareceu publicamente usando máscaras. O fato, à primeira vista, aparentou ser uma expressão clara da definição dada por Laclau ao populismo enquanto uma manifestação da lógica anti-institucional da política, em que a figura de Lula seria uma espécie de encarnação, por excelência, da racionalidade populista. O que faz sentido, se levarmos em consideração o quão impressionante é o fato de que simplesmente tornar-se elegível – e, portanto, juridicamente habilitado a incorporar o seu lugar na política brasileira – tenha sido capaz de pressionar Bolsonaro com mais eficácia que as milhares de mortes que já se acumulavam naquele momento. Porém, a ocasião disso, completamente confinada ao arbítrio da institucionalidade degradada da Nova República movida pela conveniência das classes dominantes, é uma boa demonstração de que o caráter antissistêmico do populismo é mais determinado pelo estado da situação do que se costuma admitir. Pelo contrário, como se pôde ver, o populismo se conforma de maneira muito funcional ao esquema oposição/situação da democracia liberal.
Nesse sentido, não é sem motivos que o pacto de conciliação que caracteriza a Nova República tenha obtido sucesso primeiramente com Lula. Pois o lulismo, a meu ver, é uma espécie de realização concreta da transubstanciação de uma política do conflito pautada no antagonismo social para uma concepção agonística de democracia, tal como a defendida por Chantal Mouffe. Aliás, arriscaria dizer que a transformação – ou, se quisermos dar relevo à gravidade de tal operação, o transformismo6 – do “antagonismo” em “agonismo” é a expressão por excelência da redução da luta de classes à polaridade complementar dos opostos. Por isso mesmo, uma espécie de contradição performativa imanente à razão populista, na qual Mouffe, aparentando trair sua própria teorização sobre hegemonia e estratégia socialista7, acaba por explicitar seus limites fundamentais.
Ao pensar a racionalidade populista no interior de um contínuo entre institucionalismo e anti-institucionalismo, verticalidade e horizontalidade, hegemonização de demandas populares e autonomização de demandas democráticas, lógica equivalencial e diferencial, significantes vazios e flutuantes, Laclau e Mouffe acabaram por imputar aos seus extremos (i.e., à administração total, por um lado, e à revolução sistêmica, por outro) o estatuto de “negação da política”. Isso só foi possível por meio da própria limitação do que se entendia por “política” e, por conseguinte, de suas infinitas vicissitudes. Nesse sentido, o paradoxo do populismo é que ele opera com instrumentos políticos dos quais o sentido é derivado justamente da institucionalidade cujo questionamento justifica a sua razão de ser. Daí que seus traços antissistêmicos no fundo sejam internos ao sistema, o que o torna incapaz de produzir mudanças verdadeiramente “estruturais”. Ao mesmo tempo em que os autores afirmaram que o populismo se constitui em torno de um “corte” (i.e., do colapso de um sistema que se choca com demandas populares insatisfeitas), eles não previram a demolição desse sistema, e sim uma espécie de reconfiguração interna que necessariamente opera com os pares opostos no contínuo da política. O resultado é a proposição de um colapso sem colapso, de uma ruptura radical sem ruptura estrutural, de uma verdadeira “desconstrução” da ordem desprovida do momento positivo de edificação do novo.
No caso brasileiro isso é particularmente evidente, onde o populismo é, além de sintoma (mórbido) da crise do consenso político hegemônico, a sua reafirmação. Assim, temos um espaço social em desintegração e permanente disputa, porém impermeável a uma efetiva hegemonização, no qual despontam duas formações discursivas populistas: o bolsonarismo enquanto representante da exposição da fratura em solo nacional e a política de imobilização lulista. Apesar de ambas serem inegavelmente comprometidas com as oligarquias, a primeira se mostra muito mais disposta a operar com o antagonismo social que a segunda, de instinto agonista conciliador. O que talvez ajude a explicar o malogro de Bolsonaro em se manter por mais de um mandato no poder. Por um lado, ele era excessivamente preso às estruturas existentes e, consequentemente, à sua correlação de forças, para efetivar uma ruptura institucional via revolução conservadora. Por outro, seu discurso e suas ações eram excessivamente combativos, além de erráticos, para garantir estabilidade política duradoura. Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, possui expertise comprovada quando o assunto é se equilibrar no fio de navalha do populismo oligárquico. Com efeito, talvez seja mesmo o caso de localizar a inauguração do fenômeno, ou pelo menos a sua “ata de fundação”, na famigerada Carta ao povo brasileiro, na qual, em uma manobra político-semântica ousada, o “povo” (destinatário manifesto) teve o seu sentido de um tal modo desabonado a ponto de se constituir como uma espécie de sinônimo para “mercado” (destinatário latente).
3
Dito isso, há uma razão clara e evidente para a categoria de populismo, tal como formulada por Laclau e, posteriormente, reelaborada por Mouffe, ser tão esclarecedora para a compreensão da guinada fascistizante contemporânea. Nascida do esforço para se pensar uma alternativa ao desmanche do Welfare State promovido pelos governos de Margaret Tatcher na década de 1980, tal teoria é constrangida e condicionada pelos movimentos das placas tectônicas de nossa infraestrutura econômica global, cujas aspectos fundamentais envolveu: a reestruturação da cadeia produtiva internacional, a crise do bloco socialista e a ascensão do neoliberalismo.
Sem nos delongarmos em um longo debate sobre como a aposta populista tem um potencial emancipatório estruturalmente limitado devido a seus pressupostos políticos, epistemológicos e mesmo ideológicos, sobretudo no que eles implicam de rebaixamento do horizonte socialista, gostaria de lembrar que, como uma espécie de “oposição consentida” ao neoliberalismo, a estratégia populista se mostra uma alternativa extremamente adequada ao atual estágio do capitalismo tardio. Aliás, quanto a isso, pode-se dizer sem pestanejar que a política populista é inteiramente derivada do fim das expectativas de uma sociedade salarial. É digno de nota, inclusive, o fato de ela implicar uma crítica ao proletariado enquanto sujeito político privilegiado em nome de uma aposta na heterogeneidade constitutiva do chamado lumpemproletariado, supostamente mais adequada a uma “articulação política” que inclua os “novos movimentos”. Chantal Mouffe – que, ninguém pode negar, possui a virtude da honestidade – não deixa sombra a dúvidas quando declara que seu projeto, produzido em conjunto com Laclau, surge como crítica ao suposto “essencialismo de classe” da teoria marxista, por um lado, e num momento de crise da formação hegemônica social-democrata com o objetivo de defender e radicalizar seus valores e pressupostos, por outro.
Nesse sentido, proponho que o que Mouffe chama de “momento populista”, tratado como uma espécie de janela histórica para a radicalização democrática nos países centrais, converge perfeitamente com o processo diagnosticado por Paulo Arantes como brasilianização do mundo, no qual o mundo ocidental confessadamente se brasilianiza depois de ocidentalizar a margem8. Por isso estamos na frente: pois a crítica, do ponto de vista brasileiro e periférico, além de ser indissociável da experiência histórica com a inexistência (que para nós é crônica) de um verdadeiro Estado de bem-estar social, é indissociável da experiência histórica que tivemos e ainda temos dos limites de certa implantação do populismo.
Mas contextualizemos, uma última vez. O capitalismo, como se sabe, historicamente criou formas de organização social passíveis de lhe colocar em risco. É o que Marx e Engels perceberam com nitidez, daí terem apostado todas as suas fichas em uma subjetivação política ligada ao mundo do trabalho. Fenômenos como o fascismo e o populismo se constituíram, portanto, como formas alternativas privilegiadas de se criar um corpo político e uma mobilização social minimamente homogênea sem depender de uma aposta na tendência sociológica de classe, contrariando a crença de que os condenados da terra passariam da condição de carvão para coveiros do capitalismo devido a uma espécie de necessidade imperiosa da história. Por isso, ambas as estratégias foram acertadamente diagnosticadas como expressão do processo de autonomização relativa da forma-política em relação ao seu suporte econômico. Situação que se fez presente, sobretudo, em casos nos quais o contexto de dependência e atraso da modernização criava obstáculos ao surgimento de uma classe trabalhadora organizada (populismo nos países periféricos da América Latina), ou em que a mobilização social precisava ser capaz de levar os trabalhadores a apoiar um projeto contrário aos seus próprios interesses de classe (fascismo nos países centrais da Europa).
Acontece que, na atualidade, o processo de autonomização da forma-política se generalizou de maneira brutal, dando à luta de classes um aspecto cada vez mais indeterminado cuja insígnia é uma classe trabalhadora profundamente pulverizada, por vezes, inclusive, paradoxalmente desprovida de trabalho: em suma, o que Ricardo Antunes, em O privilégio da servidão,9 chama de metamorfose do mundo trabalho, marcada pela progressiva heterogeneização, fragmentação e complexificação do que se entendia por classe trabalhadora. A ilustração dada por Gabriel Feltran desse fenômeno se destaca pela riqueza descritiva que é típica dos etnógrafos. Assim, ele constata que hoje, categorias como “pobreza”, “periferia” ou “classes populares” abrangem a vida
“[…] de um catador de material reciclável à de um taxista; de uma travesti que faz programa na rua a um pedreiro com três carros na garagem; de meninas do interior trabalhando no Hooter’s para pagar faculdade na capital a um estudante secundarista cumprindo Liberdade Assistida; de uma ingressante por Ação Afirmativa em uma boa universidade pública a um morador de rua, ex-presidiário e usuário radical de crack; de um interno de Comunidade Terapêutica que busca livrar-se da cocaína a um operário têxtil boliviano, quando não um vendedor ambulante nigeriano; de uma Agente Comunitária de Saúde evangélica a um pequeno empreendedor do ramo de automóveis, participante do Rotary Club; de um segurança privado ‘preto’ de 60 anos, nordestino, a um presidiário ‘pardo’ de 19, favelado; de um policial, um mecânico desempregado ou um dono de desmanches clandestinos. Sabemos, entretanto, que todos esses sujeitos poderiam, hoje, morar em uma mesma rua num bairro considerado de periferia e, tomadas as categorias ocupacionais ou de renda, todos poderiam ser considerados ‘integrantes das classes trabalhadoras’. As perspectivas de vida de cada um, seus pertencimentos territoriais, familiares e religiosos, seus códigos de conduta e os programas sociais que chegam até eles, vindos de ONGs, governos ou igrejas, bem como os tipos de inscrição nos mercados e os modos como a ‘violência urbana’ toca suas vidas, sendo por eles administrada, são muito divergentes.”10
Que a descrição desse processo dispersivo radical em grande medida se assemelhe a dada por Marx ao lumpemproletariado francês em O 18 de brumário de Luís Bonaparte11, comprova a efetivação de um processo brutal de lumpenização das classes sociais no Brasil12 que, como é sabido, vem sendo “exportada” da periferia para os países centrais junto com as commodities. Pois é justamente aqui que entra o processo de periferização no capitalismo tardio, de fratura brasileira do mundo, em suma, nos termos que propus aqui: o momento desintegralista, que como agora deve estar claro, mais que um espectro particular do cenário político atual, designa um traço fundamental da estrutura de nossa época.
Sua característica fundamental é a de um esgarçamento do vínculo entre valor e trabalho, por um lado; e entre capitalismo e homogeneização social, por outro. Em resumo: com a periferização do capitalismo, pode-se dizer que assistimos a uma espécie de horizontalização da guerra de classes, na qual a maioria explorada não consegue um nível de mobilização ou homogeneidade que lhe permita se rebelar contra os que estão no topo. A hostilidade despertada pela tensão social passa, então, a se concentrar entre grupos na base, o que acarreta a profusão de antagonismos que não consegue constituir uma plataforma comum de luta. Assiste-se, assim, a um processo generalizado de dessolidarização que coloca em xeque qualquer possibilidade de coesão social, em que a maioria oprimida não consegue se organizar de modo a reagir à concentração de riqueza e poder. Em outros termos, a homogeneidade social se esfarela, o que se expressa em uma sociedade na qual a fratura social não se dá mais de maneira verticalizada, entre “os de cima” e “os de baixo”, mas na horizontal, em termos de centro e periferia. Por conseguinte, “integrar” o periférico ao centro torna-se mais importante do que “emancipar”13. Estabelecem-se, então, as condições para que a luta política seja convertida em luta por reconhecimento, de modo que o que era fratura social seja, enfim, assimilado pelos próprios (novos) movimentos sociais, gerando o estado atual de fragmentação das esquerdas. Nesse cenário, a racionalidade populista aparece como alternativa teórica e política por meio da qual a “desintegração social” é ontologizada como heterogeneidade constitutiva da política, passando a ser enxergada como sinônimo de “pluralidade”.
Dito isso, posso finalmente explicitar uma de minhas hipóteses críticas mais centrais sobre a forma-política brasileira. A de que por aqui, a fragmentação crônica e degenerativa do tecido da sociedade produziu duas formas privilegiadas de mediação da esquize social. Por um lado, uma mediação objetiva do conflito social na qual o dinheiro, cumprindo a sua função de forma-mercadoria por excelência, apresenta-se como o único capaz de domesticar as múltiplas fronteiras de tensão da sociedade civil e instituir uma espécie de comunidade mercantil; cenário particularmente expressivo na fusão contemporânea entre cidadania e consumo, na qual gerir o social acabou por tornar-se sinônimo de expandir os mercados14. Por outro lado, uma mediação subjetiva do conflito social via estratégia populista que, por mais progressista que possa vir a ser, não altera (na verdade suplementa) a mediação monetarizada15; afinal de contas, esta é sistêmica e, nesse sentido, inalterável sem uma transformação revolucionária da sociedade, na qual o conflito, ao invés de mediado, seja desdobrado em uma negação determinada do regime capitalista. Na Nova República, por exemplo, conhecemos duas manifestações sui generis de mediação populista do conflito social, cada qual construída em torno de uma figura de liderança central e com um tipo de aliança próprio com a mediação via dinheiro, quais sejam: o lulismo e o bolsonarismo.
Nesse sentido, aliás, uma bela confirmação da tese de que entre lulismo e bolsonarismo há um processo de regressão social que deve ser lido tanto como uma ruptura, quanto como uma continuidade. A um só tempo colapso e restruturação do populismo oligárquico brasileiro. Pois, foi justamente uma parcela do subproletariado lulista que, ao ascender socialmente sem se politizar, tornou-se a “nova classe média” que, a partir de 2013, fez coro à insatisfação popular contra o governo, sendo posteriormente cooptada pela extrema direita, como aponta Perry Anderson em Brasil à parte16. Impasse típico da proletarização em condições de flexibilização das relações de trabalho que deu luz a uma figura como a do subproletariado que, tendo como objetivo histórico integrar-se ao mundo do trabalho formal – e, assim, deixar de existir na forma de subproletariado –, não possui um projeto próprio de sociedade, tendendo a incorporar-se ao horizonte de outras camadas. Como corolário, tem-se o favorecimento da arbitragem para resolução dos conflitos da sociedade civil, na qual a luta de classes é empurrada para os bastidores, de modo que a solução tenha de vir pelo alto17. O resultado das eleições de 2022 e a posterior guinada do governo Lula III rumo a um oligarquismo popular (até quando popular?) fortemente aderido à cartilha neoliberal, nesse sentido, seriam apenas mais um episódio de tal compulsão à repetição de uma mesma infraestrutura econômica intocável.
4
No final das contas, ficamos ainda com a velha questão sobre o que fazer, porém em uma sequência histórica na qual parece cada vez mais desafiador dar a resposta verdadeira e certa, confiantes de que venceremos porque temos razão, ainda que de fato tenhamos. Para começar, será preciso aprender com o fracasso recente dos experimentos populares engendrados pela Nova República, aqui escrutinados, para a construção de algo como uma linha de massas adequada a uma nação de economia dependente, proporções continentais, com uma incrível diversidade político-cultural e uma classe trabalhadora superexplorada e brutalmente desintegrada. Tarefa mais construtiva, logo militante, que propriamente crítica.
Notas
- RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil (3ª ed.). São Paulo: Global, 2015, pp. 19-20. ↩︎
- LACLAU, Ernesto. La razón populista. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2012. ↩︎
- Cuja melhor descrição foi dada por Vladimir Safatle: “[…] a verdadeira mola do poder não é a imposição de uma norma de conduta, mas a organização das possibilidades de escolha. Trata-se de operar uma redução da escolha que transforma o movimento no circuito limitado de um pêndulo que vai necessariamente de um polo a outro. E, como todo pêndulo, o mover-se é apenas uma forma de conservar o mesmo centro. Ir de um polo a outro é apenas uma maneira mais complicada de não andar.” SAFATLE, Vladimir. Cinismo e falência da crítica. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 202. ↩︎
- MOUFFE, Chantal. Por um populismo de esquerda. São Paulo: Autonomia Literária, 2020. ↩︎
- BENHABIB, Seyla. Breves reflexões sobre o populismo (de esquerda ou de direita). Dissonância: Revista de Teoria Crítica, AOP, p. 01-12, 2020. ↩︎
- Aqui, a definição dada pelo próprio Laclau ao conceito gramsciano cai como uma luva: “[Por transformismo] se entendia a neutralização política da possível oposição de novos grupos sociais por meio da cooptação de suas organizações políticas representativas ao bloco de poder. […] A função ideológica básica dele consistiu em absorver as contradições povo/bloco de poder dentro do sistema, evitando que as interpelações popular-democráticas se desarticulassem do sistema ideológico dominante. Em sua forma mais primitiva e elementar, esse mecanismo funciona por meio do clientelismo: os elementos popular-democráticos estão presentes, porém só a nível de demandas populares individualizadas. Os de baixo obtém a satisfação individual de suas demandas pelos notáveis e caudilhos locais, que se apresentam como ‘amigos do povo’. Em seu nível mais alto, essa função é cumprida pelos partidos populistas, que vão sendo progressivamente cooptados pelo sistema.” LACLAU, Ernesto. Política e ideología en la teoria marxista: capitalismo, fascismo, populismo. 3ª ed. Madrid: Siglo XXI, 1986, p. 135, grifos do autor, tradução nossa. ↩︎
- LACLAU, Ernesto; MOUFFE, Chantal. Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia. Madrid: Siglo XXI, 1987. ↩︎
- ARANTES, Paulo. Zero à esquerda. São Paulo: Conrad Editora, 2004. ↩︎
- ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. 2ª ed. São Paulo: Boitempo, 2020. ↩︎
- FELTRAN, Gabriel de Santis. O valor dos pobres: a aposta no dinheiro como mediação para o conflito social contemporâneo. Caderno CRH, 27(72), 2014, p. 496. ↩︎
- “Roués [rufiões] decadentes com meios de subsistência duvidosos e de origem duvidosa, rebentos arruinados e aventurescos da burguesia eram ladeados por vagabundos, soldados exonerados, ex-presidiários, escravos fugidos das galeras, gatunos, trapaceiros, lazzaroni [lazarones], batedores de carteira, prestidigitadores, jogadores, maquereaux [cafetões], donos de bordel, carregadores, literatos, tocadores de realejo, trapeiros, amoladores de tesouras, funileiros, mendigos, em suma, toda essa massa indefinida, desestruturada e jogada de um lado para outro, que os franceses denominam la bohème [a boemia]”. MARX, Karl. O 18 de brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 91. ↩︎
- ALVES, Giovanni. A lumpenização das classes sociais no Brasil. Blog da Boitempo, 2021. ↩︎
- ARANTES, idem. ↩︎
- FELTRAN, idem. ↩︎
- SILVEIRA, Maikel da. O populismo, a várzea e o bicho: notas sobre a teoria do populismo e a crise da esquerda. Revista Porto Alegre, 2019. ↩︎
- ANDERSON, Perry. Brasil à parte: 1964-2019. São Paulo: Boitempo, 2020. ↩︎
- SINGER, André. Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. ↩︎
***
Thales Fonseca é psicanalista, pós-doutorando em Filosofia pela UFMG e doutor em Psicologia pela UFSJ. É membro da Coletiva Psicanalista Trabalha (CPT).
LEITURAS PARA SE APROFUNDAR NO TEMA
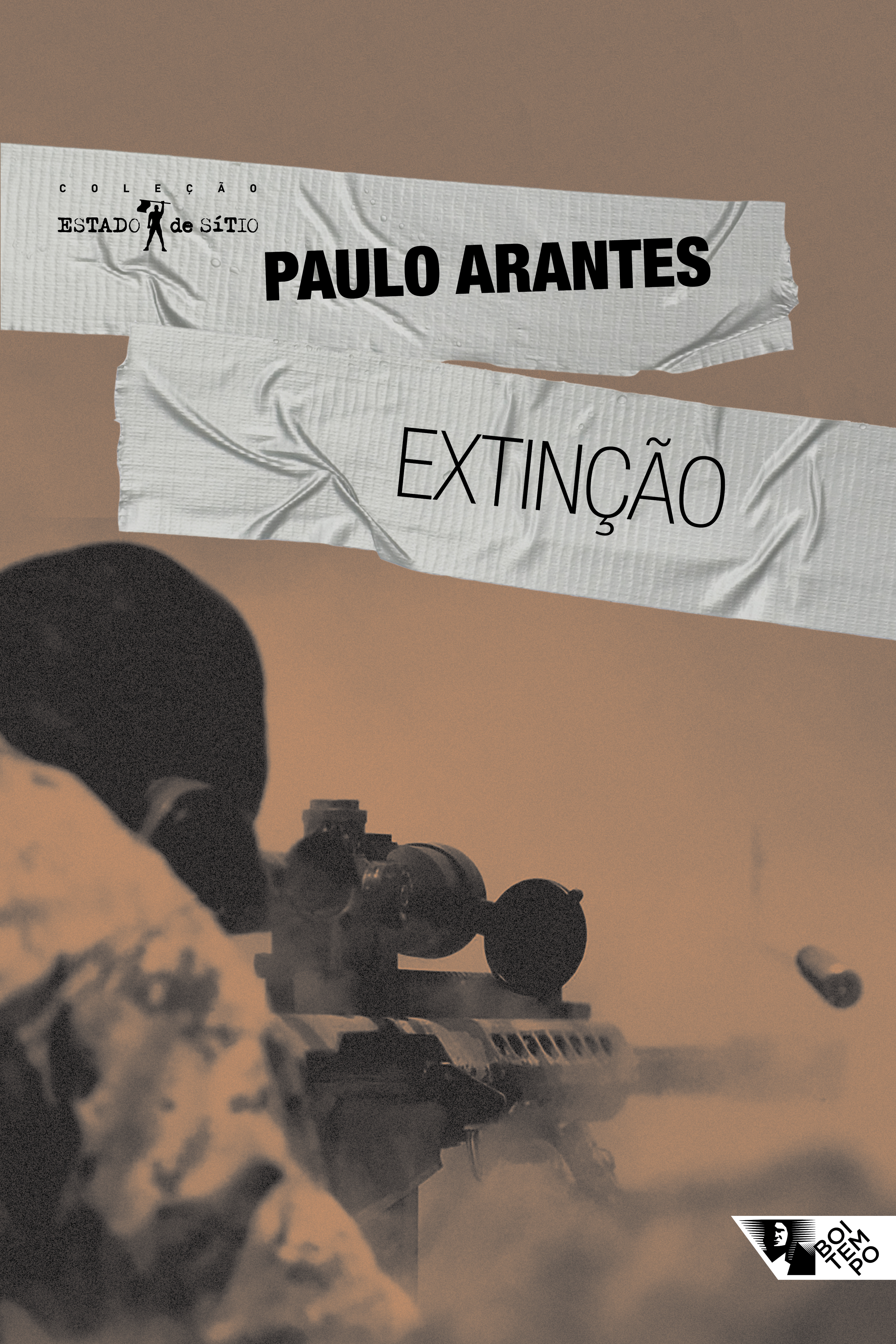

Extinção, de Paulo Arantes
Revelando as entranhas do imperialismo e o colapso político no Brasil, o filósofo destrincha a máquina capitalista de moer, criticando impiedosamente o mundo atual. Cortante e irônico, descortina as mistificações de intelectuais que justificam a barbárie e as ilusões de alguns grupos de esquerda.
O novo tempo do mundo: e outros estudos sobre a era da emergência, de Paulo Arantes
Ensaios críticos sobre a sociedade moderna em constante conflito e crise. Reflete sobre as conexões entre extermínio colonial, campos de concentração e a contemporaneidade. Analisa o colapso urbano, a militarização e o neoliberalismo, questionando a contagem regressiva da história.
Cinismo e falência da crítica, de Vladimir Safatle
Durante algum tempo acreditou-se que o esgotamento de modos de pensar e de formas de vida nos levaria, necessariamente, a realidades sociais renovadas. Como se após a queda viesse a redenção. Mas o que dizer quando nenhum acontecimento vem após a crise, quando certa estabilidade parece desenhar-se em meio à desagregação de padrões normativos?
Descubra mais sobre Blog da Boitempo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.


Deixe um comentário