A paz (que nunca houve) acabou
O que ocorre quando parte da esquerda abraça os pressupostos da extrema direita?

Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil
Por Douglas Barros
O céu amanheceu acinzentado quando os primeiros corpos começavam a ser enfileirados. Vizinhos, amigos e parentes retiravam das matas os “sem nomes”. Indigentes — em todo caso, sem nenhum julgamento — prontamente sentenciados como bandidos mortos. Tiros na nuca e corpos decapitados eram expostos. Para quem ainda estava acordando e coçando os olhos, confundia-se a cena com algo ocorrido em Gaza.
Um espetáculo de horror. Seria algo inaceitável, não fosse ter acontecido num país chamado Brasil. No dia anterior, uma “operação” deflagrada pelo governador bolsonarista Cláudio Castro teria sido considerada desastrosa, não fosse, mais uma vez, ter acontecido num país chamado Brasil. Sessenta e quatro mortos oficiais já seriam motivo de escândalo; o número de vítimas, entretanto, continuou crescendo à medida que o dia chegava ao fim. Quando acordamos, ainda aterrados, o total havia dobrado.
O quadro de uma tragédia anunciada, todavia, já havia sido pintado. O crescimento do crime organizado e a disputa por territórios no Rio de Janeiro, aliados a políticas de (extrema) direita ao longo de mais de vinte anos, azeitaram uma violência naturalizada porque tornada norma. Do filme Tropa de Elite, passando pelo assassinato de Marielle Franco e pelo jargão “bandido bom é bandido morto”, o terreno se preparava para o último ato.
Uma solução final orquestrada pelo conluio entre polícias, governo e facções. Algo que vai aos poucos se evidenciando porque não há armas que consigam reprimir a verdade. O decisivo nesse acontecimento, todavia, se põe às vistas: a extrema direita redefiniu os limites do negociável, e a esquerda governista sucumbiu à chantagem. Aceitou os pressupostos lógicos de uma guerra interna que se volta contra os pobres, já violentados pelo conluio acima.
Apesar da aparente mesmice, trata-se, afinal, de um novo regime de violência: uma redefinição do jogo traduzida na aceitação, por parte do progressismo, dos limites redefinidos pela extrema direita. Aceitou-se a gramática da guerra. Mal os corpos eram expostos pelos familiares, Lula sancionava o projeto de lei de autoria de Sergio Moro, num gesto friamente calculado. Nem mesmo o esperado apelo aos direitos humanos ou às garantias constitucionais foi até ali mencionado.
No dia seguinte, ainda da parte do governo federal, assistimos a uma adesão envergonhada à chamada “operação”, quando a parceria com o governo do Rio de Janeiro passou a ser negociada, seguida de uma campanha publicitária vergonhosa. A capitulação seria coroada com a partilha do imaginário populista da “guerra às drogas” e com a adesão implícita ao discurso trumpista, que busca construir a ideia do narcotráfico como própria ao terrorismo.
E, desse modo, o recuo e a capitulação da esquerda impediram-na de colocar em questão as condições de possibilidade para a produção do massacre que atende pelo nome de “guerra às drogas”. Essa questão nem sequer entrou minimamente no horizonte, o assunto não dá votos. O fato é que os crimes relacionados ao tráfico de drogas correspondem a quase 30% do total, sendo uma das principais causas do encarceramento, e a guerra que se sustenta em torno dele é responsável por cerca de um terço dos assassinatos no país. Cabe a pergunta se essa guerra interna não se tornou rentável condicionando os pressupostos lógicos do massacre.
O cálculo, porém, tanto da extrema direita quanto da esquerda governista, não dizia respeito aos 121 mortos dessa tragédia — tampouco da guerra permanente às drogas cujos números, nesses cinquenta anos, são catastróficos — mas às eleições. A guerra interna tornou-se popular, dá votos. Cláudio Castro sabe disso e comemora a vitória. Enquanto deputados de esquerda preferiram marcar posição defendendo abstratamente os direitos humanos e fazendo as devidas acusações de massacre e chacina sem questionar, no entanto, a ilegalidade das drogas como causa fundamental do conflito.
Assim, diante do descalabro e do recuo da esquerda em problematizar, refletir e produzir alternativas para a questão da segurança pública, a extrema direita reafirmou sua receita: a produção da morte por meio de guerras territorializadas nas favelas. Por trás da chamada “guerra às drogas”, e da falta de debate real e profundo sobre a legalização, oculta-se um dado estruturante: o racismo como princípio formador do país.
Já se sabe que a violência assistida nos últimos dias não é uma anomalia social, mas o modo pelo qual a própria sociedade brasileira se estruturou por meio da racialização de toda sua arquitetura social. A novidade é que, agora, com a ultrapolítica da extrema direita, somada à crise permanente do capitalismo, ela se expõe sem o véu da ideologia. Uma estratégia bem-sucedida que tem feito parte da esquerda abraçar os pressupostos lógicos da extrema direita.
Tentando entender o descalabro, algumas questões pairam sobre o espetáculo do horror: a mídia contemporizou o evento, a esquerda da ordem manteve-se dentro dos limites impostos pela extrema direita — respondendo com as platitudes de sempre — e até mesmo vozes que defendem a formalidade legal do Estado democrático de direito tornaram-se marginais para a grande imprensa. Isso parece sugerir que a passividade do consenso chegou ao fim.
A manutenção do ascenso da extrema direita
A extrema direita acentua sua ofensiva em todo o mundo. A partir da crise de 2008, quando, do ponto de vista técnico, as saídas neoliberais se mostraram socialmente ineficazes — saídas estas que foram ardorosamente impostas pelos governos ditos de esquerda no mundo —, a instabilidade política se acentuou.
A pobreza compartilhada tornou-se evidente. A impossibilidade de manutenção da taxa de lucro, os ideais da modernidade solapados pela desestruturação social, cidades arruinadas, Gaza e a guerra na Ucrânia, a maior crise econômica da história e uma massa de trabalhadores endividados são os adubos no solo de uma desintegração social que o progressismo busca gerir, enquanto a extrema direita busca superá-la através de uma revolução da ordem.
Na arena política, há disputas e esvaziamento de conceitos caros à tradição socialista, perdidos no jogo de instantaneidade da internet. Elaborações e reflexões críticas são subvertidas de seu sentido pelo descompromisso com qualquer noção de verdade factual. Há uma profunda crise da crítica e um espírito antiteórico espalhado aos quatro ventos. Tudo se torna questão de afetos e de como despertá-los.
Do ponto de vista da manutenção da ordem, muito antes da crise de 2008, porém, já se organizava uma completa indistinção entre esquerda e direita, e é nesse espaço vazio que a extrema direita se engaja, colocando-se como revolucionária. Enquanto gestora do “capital de rosto humano”, a esquerda se esvaziou. Tornando-se um alvo fácil, ela abriu-se à ideia de fim da história e implicitamente abraçou a ideologia de que “não há alternativas”. Curiosamente, mas nem tanto, essa simbiose da esquerda com a direita só poderia ser totalmente transparente em um país como o Brasil, sendo plenamente realizada no consórcio Lula-Alckmin.
É preciso levar em consideração as condições que impuseram esse quadro: paralela às transformações no mundo social e revolucionárias na gestão do capitalismo, uma força aglutinadora passava a ocupar de forma vanguardista (do atraso) os espaços que se generalizariam. Nos anos 1980, os pentecostais já eram a maioria entre os trabalhadores informais engrossando uma força que se tornaria política. Essa análise, apresentada por André Castro em A luta que há nos deuses, abre caminho para uma sólida interpretação do pentecostalismo como força política1.
Essa força religiosa, espraiada pelo mundo a partir de um novo senso de missão evangélica, se sobressai justamente quando a crise do valor se pronuncia de maneira definitiva nos anos 1970. Organizando uma ligação teológico-política radicada na experiência comunitária, sobretudo nas favelas, essa prática religiosa, marcada pela crise do mundo do trabalho, elabora uma visão apocalíptica que busca respostas aos eventos de desagregação social.
Revela-se, portanto, uma escatologia marcada pelo encontro entre crise social, política e econômica. Operando uma temporalidade organizada pela ideia de “fim dos tempos”, o evangelicalismo forma uma cosmovisão, do ponto de vista da crise do capital, realista. Marcada pela ideia de que algo realmente acabou e muita coisa precisa acabar, essa cosmovisão, advinda da intuição geral de que não há mais possibilidade de ascensão social, utiliza tendências apocalípticas — afinal, “é chegada a hora” — para justificar injustiças que se encontrará com uma ultrapolítica emergindo na direita.
Quando esse encontro — entre uma prática religiosa mediada pelas ruínas da modernização e uma racionalidade que coloca a concorrência como regra universal — ocorrer, a guerra de todos contra todos será mediada pela noção de salvação individual. No futuro, o messias, encarnado por Jair, se tornará um instrumento divino para acabar com “tudo que está aí!”.
Ao seu lado, mas do outro lado do mundo, Netanyahu e Israel defendem a Terra Santa, demonstrando que a promessa se cumprirá (pouco importa a recusa radical do cristianismo por parte do fundamentalismo sionista). Essa distorção fundamental, impregnada de medo e ódio, entretanto, repousa numa realidade em que as únicas expectativas possíveis são as da salvação individual e realização por meio da concorrência universal.
Assim, em um mundo depauperado, que não fornece nenhuma expectativa — e no qual a esquerda se relegou a gerir a barbárie —, as forças institucionais encarnam o mal, e o inimigo se apresenta como perpetuador de um mundo em declínio moral, social e espiritual. A esquerda e todo o mainstream midiático surgem transfigurados como encarnação da besta. Afinal, seriam servos do demônio.
Essa representação imagética do evangelicalismo pentecostal reflete um contexto de desintegração social, marcada pela crise de valorização do valor, que assume uma forma apocalíptica, na qual as forças do bem e do mal se tornam políticas e uma guerra se apresenta: trata-se não de um niilismo sem horizonte, mas de um niilismo diante da vida social, tal como ela se apresenta, que luta pelo novo céu e pela nova terra herdada por todos os homens de bens que aceitaram as palavras de ordem: Deus, Pátria e Família. Uma torção que reflete um espírito de utopia às avessas, endossado por uma politização às avessas.
Quando a extrema direita se encontrou com o sentido teológico-político do evangelicalismo — empenhado no assistencialismo e na construção de um horizonte além-túmulo —, abriu-se o caminho para a militarização social. Numa militância encarnada nas favelas e quebradas de todo país, o evangelicalismo organizou uma visão de mundo estruturada a partir da realidade degradada do capitalismo fim de linha e subalternizado do Brasil. O seu apelo parte não só da denúncia do “fim de um mundo” como da possibilidade de encontrar refúgio na partilha de um mesmo horizonte guiado pela igreja.
Assim, a força da extrema direita brasileira não está na personalização bolsonarista, mas na capilaridade de sua verdade propagada alto e bom som: não resta mais nenhum horizonte de progresso social senão um salve-se quem puder orientado por um deus imaginário e vingativo. As igrejas aparecem como lugares possíveis de fuga, sociabilidade e horizonte de sentido partilhado.
Quando o teológico e o político se encontram, num horizonte de expectativas rebaixado em que a extrema direita ousa falar a verdade — que o progressismo oculta em nome da gestão — as serpentes vão a campo. Escolhem-se os culpados, criam-se os inimigos imaginários que, evidentemente, são aqueles que se opõem à sua visão de mundo, e estrutura-se uma ultrapolítica que não busca o consenso ou a mediação — já que foram justamente esses mecanismos que nos trouxeram até aqui — mas a erradicação do diferente.
O paradoxal é que, enquanto o progressismo busca o convencimento por meio da gestão da barbárie, a extrema direita enuncia a verdade: não há saídas senão pela imposição da força, ou seja, pelo conflito. Endossado agora pelo caráter teológico-político, o conflito se torna guerra e imposição de visão de mundo.
O massacre anunciado
No dia 28 de outubro, um novo capítulo da violência cotidiana no Brasil se escreveu com contornos ainda mais trágicos. Um novo massacre, o mais letal desde o Carandiru, parece ter redefinido os limites do jogo posto. A violência contra a pobreza, cuja versão brasileira é centrada no racismo, redesenhou os contornos da violência do Estado armado.
Com a manutenção do ascenso da extrema direita por anos consecutivos, a guerra interna tornou-se popular. A linguagem da violência enraizou-se no discurso que vai de Guaianazes ao extremo sul de Santo Amaro e, em vez de provocar repulsa, corpos enfileirados passam a produzir gozo.
Outra característica importante é o grau de organização e capilaridade da extrema direita: mal os corpos tinham esfriado, governadores bolsonaristas já se perfilavam em defesa de Cláudio Castro. Além desse traço organizativo, sua atuação, no nível simbólico, excede as fronteiras nacionais. Internacionalizada, a extrema direita brasileira acompanha os movimentos da extrema direita norte-americana e europeia: a suposta “operação” ecoa a tentativa de Donald Trump de tornar tráfico de drogas e terrorismo sinônimos.
Assim, numa Blitzkrieg muito bem-organizada, no dia 3 de novembro um projeto de lei que equipara organizações criminosas a grupos terroristas foi incluído na pauta de votações da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) da Câmara dos Deputados. O relator foi Nikolas Ferreira, que percebendo a abertura do governo Lula (que aprovou diversas leis “anticrime”), encaminhou a proposta.
O gesto do governo federal diante do acontecimento foi o de contemporizar e reduzir tudo ao cálculo eleitoral, redefinindo as formas do jogo agora delimitado pelas pressões e imposições do terror orquestrado pela extrema direita. Trata-se da manipulação do medo e da fabricação de um ódio dirigido contra os pobres, que são negros, e que são negros porque são pobres. Tudo sob o regime de uma justificativa injustificável: o suposto combate às drogas.
Se as políticas de segurança de um suposto governo de esquerda são ditadas pela sanha assassina da extrema direita, então que diferença resta? Exceto pelos discursos grandiloquentes de parlamentares que falam apenas à própria base, a esquerda governista tende a ignorar conscientemente o tendão fundamental dessa violência rentável: o fracasso reiterado, ano após ano, da chamada “guerra às drogas”.
A paz — mesmo a ideológica — já não interessa mais.
Notas
- CASTRO, André. A luta que há nos deuses: da Teologia da Libertação à extrema-direita evangélica. São Paulo: Editora Machado, 2024. ↩︎
***
Douglas Rodrigues Barros é psicanalista e doutor em ética e filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Professor filiado ao Laboratório de experiências coloniais comparadas, ligado ao Instituto de História da Universidade Federal Fluminense (UFF). Professor na pós-graduação em filosofia da Unifai. Investiga principalmente a filosofia alemã conjuntamente com o pensamento diaspórico de matriz africana e suas principais contribuições teóricas no campo da arte e da política. Escritor com três romances publicados, também é autor dos livros Lugar de negro, lugar de branco? Esboço para uma crítica à metafísica racial (Hedra) e Hegel e o sentido do político (lavrapalavra).
O que é identitarismo?, de Douglas Barros
Na última década, um termo tem se proliferado de maneira espantosa no discurso político. Moralmente carregado e lançado a torto e a direito em disputas de internet, mesas de bar, espaços acadêmicos e palanques políticos. Mas, afinal, o que é identitarismo? Na interpretação original do psicanalista Douglas Barros, o termo nomeia sobretudo uma forma de gestão da vida social contemporânea que engole esquerda e direita. Com um olhar da periferia do capitalismo sobre a colonização, Douglas revisita, pelo prisma da identidade, o surgimento e desmonte do sujeito, do Estado e do capitalismo modernos para jogar luz sobre os impasses da política contemporânea.
Descubra mais sobre Blog da Boitempo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

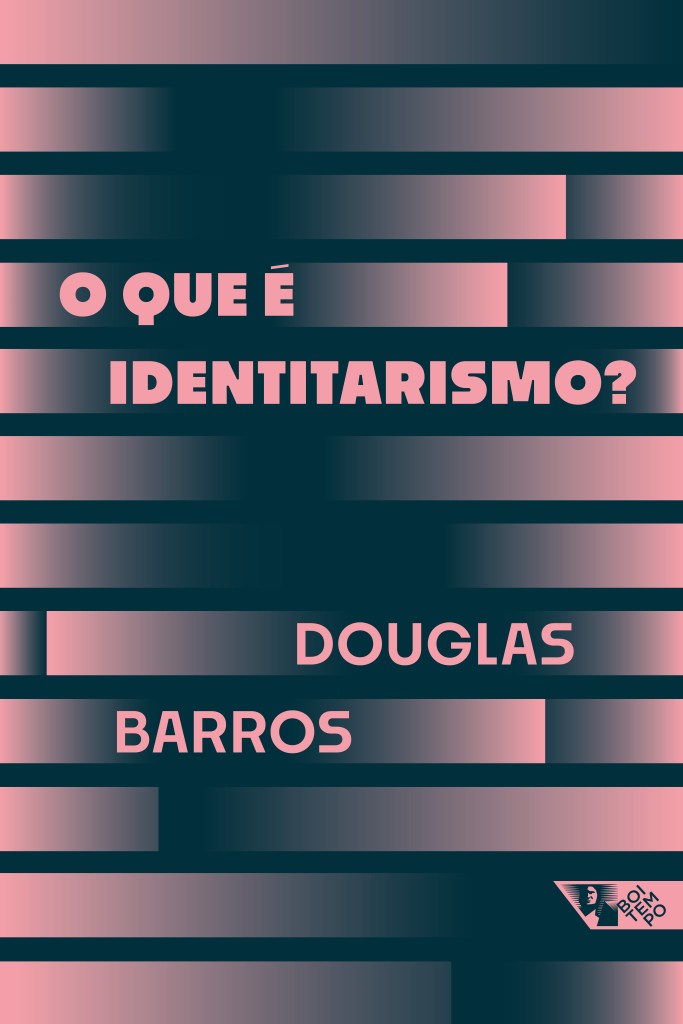
Essa tese só se sustenta se vc acredita que a esquerda é ou já foi esquerda algum dia, mas se sabe que a esquerda pós ditadura foi construída pela ditadura como auxiliar na manutenção da barbárie capitalista no Brasil fica mais fácil de compreender. E esse retórica do massacre apenas para disputas eleitorais não cola, não teve nada a ver como isso. Teve a ver com a criação de um estado de comoção nacional para aprovar a entrada de organizações criminosas na lei antiterrorismo de Dilma, 2016. A partir de agora qq organização – não são só as facções, esse é o cavalo de Tróia – poderão ser enquadradas como terroristas: um partido, um mov. social, um clube, uma torcida, um sindicato, uma associação de bairro, um time de futebol, um trupe de teatro etc etc. É o fechamento total do regime com aparência de democracia promovido por todas as forças políticas e midiáticas em conluio. É patriot act tabajara que saiu do forno numa trama encenada pela esquerda e pela direita.
CurtirCurtir