Alguém disse materialidade?
Imagem: Wikimedia Commons
Por Douglas Barros e Natan Oliveira
Não me lembro bem quando conheci Natan. Talvez tenha sido por conta de Lugar de negro, lugar de branco? (Hedra, 2019); talvez por causa de alguma crítica que ele me fez. Só sei que, desde que nos conhecemos, nossas afinidades eletivas logo se transformaram em camaradagem teórica e etílica – não é verdade, Natan não bebe cerveja, mas sempre nos acompanha no bar. Ademais, a facilidade da identificação estava posta: ele, um jovem da periferia do Rio; eu, um jovem da periferia de São Paulo; ele, preto e militante dos cursinhos populares; eu, um pardo sem pai, militante do movimento negro; ele, um amante da física e da filosofia; eu, um amante da filosofia e da física.
Tornamo-nos amigos e camaradas, passamos a tocar projetos juntos e fomos condensando debates e prosas que abriam caminhos para nossa investigação comum – seja na física, seja em Hegel. Hoje, Natan é mestrando na UnB, e quem o conhece sabe que se trata de alguém especial: um jovem talentoso, um físico talentoso e um crítico implacável. No último debate, que logo se converteu em uma polêmica esvaziada, conversamos pelo WhatsApp. Meu intuito era tão somente desabafar – amigo é para isso, não? – porém, a prosa se aprofundou, resultando no diálogo que, por sua extensão e profundidade, resolvemos corrigir e publicar tendo a nítida impressão de que seremos chamados de elitistas e eurocêntricos por alguém.
Douglas Barros (está digitando): Salve, Natan, suave?
Natan Oliveira (está digitando): Suave, Douglas. Salve! Como tá por aí, mano? O que tu me conta de bom?
Douglas Barros (está gravando): Porra, que polêmica boba, parece até que falei algo contra a honra. Tu viu? Essa polêmica é no mínimo curiosa, não sei se você capturou mas aquele texto-resposta (publicado no Blog da Boitempo) contém a ideia de que, na verdade, é Nego Bispo quem aprofunda o conceito de materialidade a partir do momento em que “afirma a centralidade do corpo, da oralidade, do território e da vivência”. O salto é enorme: é como se ao se afirmar a centralidade do corpo e do território se operasse uma análise do capitalismo colonial que “se inscreve nos corpos racializados, nas formas de pertencimento destruídas, na expropriação simbólica e espiritual”. O que não é verdadeiro nem em termos lógicos – já que o corpo, a oralidade, o território e a vivência são condicionados e produzidos pelo próprio desenvolvimento contraditório organizado pela formação do embrião da forma mercadoria, que subsume essas formas de expressão –, muito menos em termos dialéticos, pois não é uma negação da questão colonial, já que não se coloca o colonialismo nos termos de sua própria produção histórica. Aliás, para Nego Bispo, o colonizado era sempre o outro. Então voltamos à questão: o que se entende como materialidade? Essa questão, como a gente sabe, é central no desenvolvimento da filosofia e da ciência, sobretudo na modernidade (risos). O que tu acha?
Natan (está gravando): Eu acompanhei a polêmica sim, Douglas. Não fiz nenhuma intervenção mais substantiva, mas deixei uma impressão breve nos stories do Instagram – acho que você deve ter visto. E as críticas que eu poderia te endereçar foram aquelas do story, que foram as mesmas que te falei por aqui…
Quanto ao ponto que você levanta agora, estou de acordo no essencial. Em primeiro lugar, você tem razão ao apontar que há uma passagem logicamente muito rápida da centralidade do corpo para uma suposta crítica do colonialismo. Isso é curioso, porque, veja: se a gente reconhece que o desenvolvimento histórico do colonialismo produziu esses corpos precisamente ao racializá-los e ao configurar certas formas de territorialidade, então simplesmente afirmar a centralidade do corpo e do território tende a reafirmar o produto do colonialismo tal como ele se constituiu historicamente. Falta aí, a meu ver, uma mediação crítica intermediária que permita realmente alcançar o objetivo pretendido pelas autoras.
Por outro lado – e aqui concordo plenamente com você – a questão da materialidade é, de fato, muito interessante. A gente sabe, desde a filosofia moderna, que o corpo é pensado como a extensão imediata do indivíduo. Uma operação minimamente crítica, nesse ponto, seria deslocar essa concepção: pensar o corpo não apenas como extensão da unidade biológica singular, mas como algo que pode ser socialmente constituído, talvez até mesmo recuperar a ideia de corpo como parte de um grupo ou de uma comunidade. Não me lembro de ver isso desenvolvido de forma consistente nesse debate específico, caso eu não tenha perdido alguma coisa. A pergunta que se impõe é: que condições históricas fizeram com que o corpo fosse reduzido a essa extensão individualizada? E, sobretudo, poderíamos pensar o corpo de outro modo? Talvez aí houvesse espaço para um desenvolvimento mais amplo e rigoroso da noção de materialidade da corporeidade – para que não fiquemos, é claro, reféns de uma experiência imediata quanto a isso.
Isso me faz lembrar, inclusive, de Marx. Se me permite… Na crítica da economia política, ele amplia decisivamente a noção de materialidade ao mostrar que ela reside também nas formas sociais. O material não se reduz às coisas ou aos objetos imediatos – a esse imenso mundo de mercadorias –, mas inclui as categorias, entendidas não enquanto coisas, e sim enquanto formas sociais do valor, do dinheiro e do próprio capital. Isto é, há toda uma estrutura social complexa e oculta que constitui a experiência mais imediata no capitalismo. Basta lembrar a referência ao “caráter espectral do valor”, algo que Marx destaca ao dizer que o valor não possui propriedades físico-químicas como aquelas descritas na tabela periódica. Ou ainda a consideração a respeito da “virtualidade” do dinheiro na esfera da especulação financeira. Ou seja, o capital não é imediatamente palpável, mas é material num novo sentido – afinal, ele não remodelou o mundo à sua imagem e semelhança?
Agora, se você me permite retomar mais um ponto sobre a questão do corpo, me ocorre uma certa ironia. A gente sabe que a modernidade colonial racializou os corpos e os organizou em categorias excludentes e opositivas – negros de um lado, brancos de outro etc. Ao mesmo tempo, os corpos negros foram historicamente utilizados como cobaias em testes médicos e experimentações diversas, cujos resultados, em última instância, beneficiaram os brancos europeus. Esses sujeitos eram reduzidos ao estatuto de mera coisa, mas justamente por isso tornavam-se úteis para a produção de saberes e vantagens destinadas aos então considerados plenamente humanos. Eis uma ironia de péssimo gosto!
Então veja que se a gente desloca um pouco a perspectiva, não haveria nesses corpos uma espécie de condensação dessa própria lógica espectral do capital? O que você acha? Estou exagerando?
Douglas (está gravando): Você não exagera nem um pouco; pelo contrário, você vai ao cerne da questão: o corpo como lugar de inscrição das transformações operadas pelo advento da modernização. E, pasme: quem faz essa discussão de modo exaustivo é ninguém menos que Fanon.
É interessante levar em consideração como a questão racial vai operar reduzindo culturas complexas e comunidades díspares ao corpo dos indivíduos que vai aparecer como diferença explicitada numa unidade forçada e fantasmagórica chamada raça. “Raça” e “negro” fazem parte de uma mesma incursão no horizonte de significados históricos do mundo moderno. O que estou dizendo, em consonância com o martinicano, Natan, é que o termo raça vai aparecendo aos poucos no discurso moderno para justificar a aparição do negro como um corpo de exploração, um produto das relações que engendraram o colonialismo como embrião do capitalismo.
Esse modo de operar uma fenomenologia do corpo negro – delimitada por três formas de organização de horizontes do saber: religião, filosofia e ciência – abre caminhos para uma racialização do horizonte social. O corpo negrificado serve como laboratório de experiências de exceção e violência que irão se generalizar ao redor do mundo. De modo que a raça, quando entra na gramática moderna, é generalizada para diversas comunidades humanas, dentro e fora da Europa, e será naturalizada a partir do século XIX.
O que isso tem a ver com a materialidade? O fato de que aquilo que é tido como mais empiricamente material (o corpo, por exemplo) é delimitado por signos e estruturas simbólicas fundamentadas em processos históricos. Não basta afirmá-lo como lugar de materialidade – sob pena de reduzi-lo a um empiricismo anterior a Hume, condizente com o colonialismo –, mas observá-lo como um repositório de signos que o atravessam, o trancafiam e o desumanizam. Enfim, o corpo afirmado a partir de seu território já é um resultado do colonialismo. E digo mais: nada mais colonial do que isso.
A turma pode até querer negar o pensamento moderno/científico. Mas essa negação estanque – operada a partir de um suposto saber orgânico – não consegue capturar o quanto esse pensamento foi responsável pela construção fictícia das raças. Se não se questiona isso, também se ignora como a abstração real, guiada pela valorização do capital, sustentou e deu legitimidade, pelo discurso de “verdade”, a um modo de sociabilidade exploratório e predatório que atende pelo nome de capitalismo e que fragmenta a humanidade pela racialização.
Quais lições a gente pode tirar disso para aprofundar a noção de materialidade? Aqui, a gente não pode se afastar das lições da velha crítica: o trabalho que cria o valor é o trabalho humano abstrato – executado por uma massa passada. Essa lição é importante porque mostra como o passado se torna uma substância (trabalho morto), redefinida pelo presente (trabalho vivo), para preparar a reposição do excedente no futuro, por meio da troca.
O tempo, Natan – sei que você ama essa discussão –, torna-se também abstrato e serial. E o nosso tempo, o tempo humano, é condicionado quase em sua integralidade para realizar a mercadoria encravada na cronologia. Então perceba que o que estou dizendo é que o fetichismo da mercadoria não é apenas uma abstração específica da realidade, mas a transformação da realidade em uma abstração cuja virtualidade define a ação dos indivíduos. O que isso significa? Significa que a forma como nos organizamos materialmente será definida por essa virtualidade simbólica, profundamente influenciada pela necessidade de realização do valor. O colonialismo além de material é espiritual – no sentido de produção simbólica e imaginária de sentido.
Sohn-Retel já dizia que o abstrato advém das formas de sociabilidade organizadas a partir da realização do mercado, e é nelas que se efetiva a individualização da consciência privada. E o que isso tem a ver com a raça? Na medida em que o mundo vai sendo reduzido aos imperativos do capital, as heranças do colonialismo se articulam às formas de dominação e exploração para definir, a partir da raça, o lugar que ocupam os sujeitos. Assim, a abstração real operacionaliza também uma abstração real da raça. Falo disso de maneira vaga no meu livrinho, é verdade. Mas essa ideia não some da minha cabeça. Agora me diga: fui eu que exagerei?
Natan (está gravando): Penso que você não exagerou, não, Douglas. Na verdade, tocou em vários pontos sensíveis – e, claro, em alguns que podem soar polêmicos.
Áudio corta…
Natan (está gravando): Opa, foi mal, sem querer o áudio escapou aqui…
Então, eu achei particularmente interessante você trazer explicitamente o Fanon para a conversa. Penso que há disputas no interior do próprio movimento antirracista, né?
Vou te confessar uma coisa agora: há um tempo eu fico um pouco incomodado em ser visto como um corpo – mais especificamente, como um corpo negro. Eu entendo a intenção de valorizar esse aspecto, e ela tem sua razão de ser, mas isso não deixa de me incomodar. Talvez porque também a polícia militar me veja da mesma forma!
Aliás, o próprio Fanon, recuperado por ti, encerra Pele negra, máscaras brancas dizendo algo como: “Ó meu corpo, faz de mim um homem que questiona!” Acho que há algo fascinante nisso: ele remete ao corpo, mas justamente para afirmar alguém que questiona; portanto, já há aí um deslocamento da inscrição imediata da corporeidade. E, salvo engano, pouco antes ele fala também da “dimensão aberta da consciência”. Se não estou equivocado – e você sabe que não sou especialista no tema, só alguém que tenta se manter bem-informado –, me parece que Fanon escapa tanto a um reducionismo ao corpo quanto a um reducionismo à consciência.
Creio também que você tocou em um ponto que, para mim, é decisivo: a centralidade da crítica da economia política para pensar a dinâmica racial moderna. Afinal, essa dinâmica não paira no ar; ela foi forjada por processos históricos bem determinados, em especial aqueles ligados à constituição da modernidade pelo modo de produção capitalista. Sei que hoje há muita rejeição a Marx e à teoria social que o reivindica, mas me parece que a luta contra a racialização, o racismo, em prol da emancipação social perde muito quando abre mão dessa crítica potente ao sistema – ainda que, convenhamos, os próprios marxistas muitas vezes não ajudem (risos).
Quando você recupera a noção de abstração real e o modo de sociabilidade que a constitui, entendo que você coloca a própria raça como um desses mecanismos de abstração real. Lembro de você sinalizar isso no seu livrinho, mas tenho a impressão de que ainda há muito a ser explorado aí. Veja se faz sentido o que estou pensando: como você disse, o trabalho que se representa em valor é o trabalho abstrato – a boa e velha lição do capítulo inicial do Livro I de O capital.
Marx mostra como o processo capitalista de produção é indiferente às formas concretas e sensíveis do trabalho. Pouco importa se é o trabalho do pedreiro, do professor ou do motoboy; para o capital, o que importa é que esse trabalho seja reconhecido no mercado e conte como trabalho socialmente necessário. É justamente o fato de essas atividades terem sido reduzidas a uma dimensão geral e abstrata – simples “trabalho” sem forma – que permite a produção de mercadorias, isto é, de objetos e serviços para compra e venda. Tem toda uma implicação aqui também para pensar o tempo, como você mencionou – mas tempo é justamente o que eu não agora para elaborar. Se eu for por aí não volto mais…
Agora, Douglas, há uma sutileza aqui que passa despercebida para muitos: essa forma histórica de trabalho indiferente às particularidades, que homogeneíza tudo e resta como produtora de mercadorias, teve uma de suas primeiras figuras – e certamente uma base decisiva da modernidade – justamente no trabalho escravo. Em muitas teorizações, o trabalho capitalista (assalariado) e o trabalho escravo aparecem como incompatíveis ou antagônicos, como se um simplesmente sucedesse o outro. Mas me parece, ao contrário, ser possível pensar que o trabalho escravo já constitui uma forma de trabalho abstrato. Salvo melhor juízo, algo nessa linha comparece em historiadores como Dale Tomich e Marcel van der Linden. O trabalho escravo poderia já ser considerado como trabalho produtor de mercadorias para o mercado mundial, produtor de valor, como operando uma brutal indiferença em relação à forma particular e sensível da atividade – e em relação ao próprio sujeito que, nesse caso, também era uma mercadoria, daí a violência direta sobre os escravizados ser mais aberta e comum.
E como isso se conecta à nossa conversa sobre raça e materialidade? Veja: foi necessário um processo histórico complexo, marcado por uma violência colonial de escala mundial e pela sujeição sistemática dos corpos – que, por sua vez, depende da dissolução de outros laços sociais, da mudança no regime de propriedade e de um processo brutal de expropriações das diversas comunidades de seu vínculo orgânico com a terra –, para que se produzissem essas abstrações reais que conformam a lógica social do capital. Em outras palavras: sem a crítica da economia política, não conseguimos ver nitidamente como nossos corpos se tornaram operadores de tais abstrações. É por isso que esse mundo está de ponta-cabeça! (risos)
Natan (gravando): Mas, sendo bem sincero contigo – e isso já te disse em outras ocasiões –, acho que ainda há duas questões que merecem um exame mais cuidadoso. A primeira é: por que não há racialização antes da modernidade? A segunda é: mesmo que estejamos convencidos da importância da crítica da economia política e de suas implicações para pensar o social, nem todo mundo navega nesse barco. Além disso, no âmbito acadêmico, sobretudo nas ciências humanas, muita maledicência foi lançada sobre essa tradição teórica, com acusações de eurocentrismo e, pasme, até de pró-colonialismo. Daí eu me perguntar: não seria o momento de retomar essa defesa e mostrar novamente a validade teórica e crítica dessa forma de pensar e agir? Que que tu acha?
Douglas (gravando): Meu mano, para mim, sem dúvida, já passou da hora de reconstituir um corpo politizado que recoloque a crítica da economia política no cerne dos debates – não por apego apaixonado a Marx ou por tentativa de reconciliação com uma tradição. Aliás, nem vejo muito sentido nisso: sou alguém devotado à ciência como forma de destituir saberes, não de os sedimentar. Assim, a defesa da crítica da economia política se faz em consonância com aquilo que ela fornece em termos de interpretação da realidade, que aparece como síntese de contradições dinâmicas, e não estáveis. Veja que minha defesa não é vazia: em todos esses anos de filosofia, nada me convenceu de que a crítica da economia política não seja a que melhor possibilita compreender a dinâmica do capitalismo global.
E, para dar continuidade à nossa conversa, queria resgatar algo a partir das suas provocações: em dado momento, você afirma que o trabalho escravo é produtor de trabalho abstrato. Concordo inteiramente com você, porém, com um único adendo: o trabalho escravo é um pressuposto do trabalho assalariado. O que isso significa? Em termos simples, que o trabalho escravo foi a condição de possibilidade do processo de produção e circulação de mercadorias. Invoco, para pensar isso, um velho marxista uspiano: Ruy Fausto (risos… agora a turma endoida). Os operadores lógicos que remetem às ideias de pressuposição e posição são fundamentais para pensar a raça como algo encravado e determinante na modernização capitalista.
Claro que aqui não é propriamente o lugar de aprofundar isso como se deveria, mas ajuda, no mínimo, a elucidar o motivo pelo qual a raça é uma construção moderna. O caráter pressuposto – não pleno e/ou em potência – da construção do imaginário racial no desenvolvimento histórico, em contraposição ao posto – pleno e/ou em ato –, emerge quando a necessidade da raça, enquanto operador de mera abstração, torna-se uma abstração concreta. Ou seja, quando a racialização se realiza em toda a sua potencialidade ao atrelar-se à forma da reprodução social, constituindo um imaginário correspondente e organizando a estrutura pela qual a sociedade da mercadoria irá se reproduzir. Trocando em miúdos, a racialização é um pressuposto necessário, e não um apêndice, da exploração capitalista.
Por mais que não confessem, nossos inimigos teóricos conferem à raça uma espécie de autonomia total (em muitos casos, essencializado) e, quando isso é questionado, acusam-nos de reduzi-la a um simples epifenômeno do capital. Mas a questão é que a raça, organizada a partir de diferenças entre grupos humanos distintos para legitimar a exploração – e a opressão dela advinda –, cristaliza-se como um arranjo social cujas implicações ressoam no direito e nas formas contratuais, isto é, nas formas de definir quem é cidadão e quem não é. Isso inscreve a raça como mediação constitutiva da sociabilidade capitalista, tornando raça e classe elementos inextrincáveis.
Quando afirmo que a raça opera como uma abstração real, não nego sua violência concreta; longe disso, afirmo justamente sua eficácia social objetiva, ao organizar, de modo sistemático, os lugares destinados aos racializados. O capital não “usa” uma raça já pronta; ele produz e generaliza racializações como parte de sua própria dinâmica de dominação. Se o racializado não existe, o capital precisava inventá-lo com intuito de sintetizar seu desenvolvimento desigual e combinado. Daí a metamorfose da racialização que acompanha os ritmos e crises do capital: ontem, o judeu; hoje, o palestino – e por aí vai.
Isso explica, em parte, por que a noção racial é genuinamente moderna. Em todas as épocas humanas, o receio diante da diferença é factível – a tentativa de solidificação e defesa consanguínea patrilinear da identidade, ligada ao território, na história humana é tangível. A originalidade da modernização, porém, está em instrumentalizar esse receio por meio da diferença: o diferente passa a funcionar como signo de inferioridade, e essa noção é mobilizada a partir de um modo de sociabilidade que, para se desenvolver, necessita da exploração radical. E aí que a raça entra criando um corpo de exploração, como vai dizer Mbembe.
É nessa esteira que o conceito de raça é elaborado. Retomando sua provocação: o trabalho escravo, enquanto pressuposto do trabalho “livre”, operacionaliza o trabalho morto que se solidifica nas “benesses” da modernidade, ao mesmo tempo que efetiva, por meio da naturalização da noção racial, a distribuição dos corpos na sociedade – isto é, os lugares e não-lugares que os racializados e aqueles reconhecidos como cidadãos irão ocupar. Que que tu acha?
Natan (gravando): Mano, acho que você foi cirúrgico. Tendo a concordar contigo, pelo menos a partir das leituras que fiz até aqui. Mas, de novo, faço uma ressalva honesta: esse não é exatamente o meu campo principal de pesquisa e estudo.
Aliás, queria aproveitar para te dizer uma coisa. No meio dessa conversa toda, teve algo que ficou me incomodando e que agora está aqui me interpelando. Sei que você vai precisar encerrar a conversa para voltar à escrita do seu livrinho sobre Hegel – e eu para voltar à escrita do meu livrinho sobre o tempo (risos) –, mas antes me deixa colocar uma última questão.
Fiquei com a impressão de que a conversa foi carregada de referências e, em vários momentos, teoricamente bem fundamentada – o que, aliás, me deixa bastante satisfeito enquanto alguém ligado ao fazer científico, já que definitivamente não somo coro ao descarte da ciência. Mas, ao mesmo tempo, me peguei pensando como tudo isso se conecta com a quebrada aqui da casa dos meus pais, onde cresci, com a moçada dos bairros populares, com a rapaziada das periferias que cola nos cursinhos populares etc. Em outras palavras: como essa galera que tem o pé no chão – e eu tento manter o meu ali também, apesar de correr e olhar o céu –, vivendo a dureza da vida cotidiana, olha para esse tipo de discussão. Seria todo esse papo algo etéreo?!
O que tudo isso tem a ver com eles? E com a gente? Às vezes me bate essa brisa: lembro do meu lugar e fico pensando no que isso tem a ver com o jovem Natan – e até com o jovem Douglas. Será que, a partir desse nosso papo, dá para dizer algo a eles, ou melhor, a nós, nesse sentido?
Sei lá, mano… foi mal a brisa. Mas isso tudo me preocupa também. Deve ser meu lado professor falando mais alto! (risos)
Douglas (gravando): Sabe o que acho bonito nisso tudo… a contradição organizada que colocamos na cara de quem acha, mas não assume, que pobre não consegue pensar. Veja a gente: dois fodidos. Um foi estudar física quântica e teoria da relatividade, o outro, Ciência da Lógica. Se você for ver, isso atesta algo da nossa posição: não somos contra a ciência; somos favoráveis à sua democratização e contrários à dominação que o capital exerce sobre ela. Discutimos a ética na ciência, a história da ciência e a possibilidade de expropriá-la do domínio do capital. E somos, pasmem, dois fodidos vindos de quebradas violentas… isso dá um curto-circuito na cabeça da classe média branca… Negros e marxistas é demais!
Sabe, minha inspiração é São Domingos, quando os escravizados expropriaram o horizonte simbólico do colonizador, redefinindo o horizonte de universalidade. Eu ainda acredito na igualdade radical entre todas as pessoas, e é isso que move minha crítica, porque acredito que nosso sangue é vermelho, nossas dores são semelhantes, nossa risada – enfim, Shylock estava certo.
Mas acho que tem algo que você traz e que é central: tudo isso que discutimos em alto nível de abstração impacta de maneira profunda a vida na quebrada. Quando a gente assume que a racialização foi coexistente com o desenvolvimento da sociedade da mercadoria – algo profundamente violento e desumanizador –, a gente percebe que aquilo que organiza o imaginário social é marcado por ela. Mano, quantas vezes você já sentiu vergonha sem saber exatamente do que se tratava? Quantas vezes você não se sentiu descentrado no próprio corpo pelos olhares que indicam que você não pertence àquele lugar?
Pensar a especificidade histórica da racialização, pensar as relações sociais como algo que produz o horizonte de sentido subjetivo, é perceber que essa nossa vergonha – ou o nosso desejo de não ter o corpo que temos – é marcada por um imaginário social que colocou o racializado como sub-humano. Quando entro em sala de aula – e você sabe que até hoje dou aula em cursinhos populares – é interessante ver no rosto dos estudantes o espanto.
Quando eles percebem que alguém como Fanon ou Lélia Gonzalez conseguiu explicar que esse sentimento é uma herança colonial, passam a questionar o próprio desejo. Então, mano, quando na quebrada se questiona o lugar da racialização e se fala da especificidade histórica do colonialismo, vemos a moçada perceber que essa herança colonial não só vilipendiou a memória das lutas, como também organizou neles a ideia de abraçar o desejo do branco proprietário, criando a mítica da eterna vítima. Já dizia o Mano: ninguém quer ser coadjuvante de ninguém. A molecada sabe que não é vítima porque quer ser sujeito.
E digo mais: toda essa mitificação que a classe média faz em torno do negro me parece uma tentativa de refrear o ímpeto dessa descoberta. Não discutir categorialmente a raça e impedir o aprofundamento da noção de colonização é uma maneira de criar a ideia de cada qual no seu quadrado. Esses dias, eu estava pensando: o jovem Douglas estaria orgulhoso, porque o desejo dele era ser um intelectual maldito, que não pede passagem e cujo único compromisso é com uma crítica transformadora. Se a filosofia não for para angustiar e causar desconforto, ela se reduz apenas ao penduricalho das classes médias.
Mas, é isso, tamo junto, nego véi!
Natan (gravando): Pô, mano… isso que tu disse agora até me emocionou um pouco. Sinto que a conversa já até mudou de rumo. Achei foda isso que você falou de sermos da periferia e estarmos aí tentando pensar as grandes questões. É bem doido, porque teu comentário me fez lembrar de vários parceiros dos tempos de bola que se foram de forma trágica. A vida é loka, né? A gente sempre se pega pensando que poderia ter sido a gente…
E olha que, ao final de tudo, fui fazer faculdade de Física, intrigado pelo mistério do tempo, querendo entender as equações do Einstein. Não sei se já te contei, mas eu já lia Marx desde os tempos de escola – só que não fui pras humanidades. Achava que estudar algo de ciências humanas iria me causar muita angústia (risos), então preferi estudar Física. Mas sempre gostei de história, sociologia, filosofia etc. Tanto que tive que fazer esse desvio agora no mestrado: cismei de estudar Hegel, quis fazer esse acerto de contas com a dialética…
Mas ó… é engraçado você falar desse lance das aulas nos cursinhos populares, porque acontece o mesmo comigo. Esse espanto. Aliás, nos cursinhos eu geralmente dou aula de Física, e talvez esperando um professor de humanidades, a galera pira: “pô, um professor de Física que é negro e tem dreads?” Eu curto essa ideia de dar um nó na cabeça da galera. Já começa aí o papel do professor, né: jogar uma serpente no paraíso deles. Talvez tenha sido isso também que você fez na sua crítica – algo que movimentou um certo debate e que, no fim das contas, te deixou orgulhoso.
Enfim, tinha muito mais coisa pra falar, mas vai ficar pra depois. Agora vou precisar adiantar uns trabalhos aqui. E pra citar o Mano: se o fundamento for o mesmo, lá na frente nós se encontra!
Valeu pela prosa, nego. Se cuida!
***
Douglas Rodrigues Barros é psicanalista e doutor em ética e filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Professor na pós-graduação em filosofia da Unifai. Investiga principalmente a filosofia alemã conjuntamente com o pensamento diaspórico de matriz africana e suas principais contribuições teóricas no campo da arte e da política. Pela Boitempo, publicou O que é identitarismo? (2024). Escritor com três romances publicados, também é autor dos livros Lugar de negro, lugar de branco? Esboço para uma crítica à metafísica racial (Hedra) e Hegel e o sentido do político (lavrapalavra).
Natan Oliveira é carioca, mestrando em Filosofia na Universidade de Brasília (UnB), onde realiza uma pesquisa sobre Hegel e a física newtoniana. É bacharel em Física pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Integra o NIEP-Marx/UFF e o GEPOC/UFF, coordena o Centro de Formação onde oferece cursos livres e também colabora com o podcast Ontocast. Tem experiência com divulgação científica e atuou como educador popular em cursinhos pré-universitários populares.
O que é identitarismo?, de Douglas Barros
Na última década, um termo tem se proliferado de maneira espantosa no discurso político. Moralmente carregado e lançado a torto e a direito em disputas de internet, mesas de bar, espaços acadêmicos e palanques políticos. Mas, afinal, o que é identitarismo? Na interpretação original do psicanalista Douglas Barros, o termo nomeia sobretudo uma forma de gestão da vida social contemporânea que engole esquerda e direita. Com um olhar da periferia do capitalismo sobre a colonização, Douglas revisita, pelo prisma da identidade, o surgimento e desmonte do sujeito, do Estado e do capitalismo modernos para jogar luz sobre os impasses da política contemporânea.
Descubra mais sobre Blog da Boitempo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.


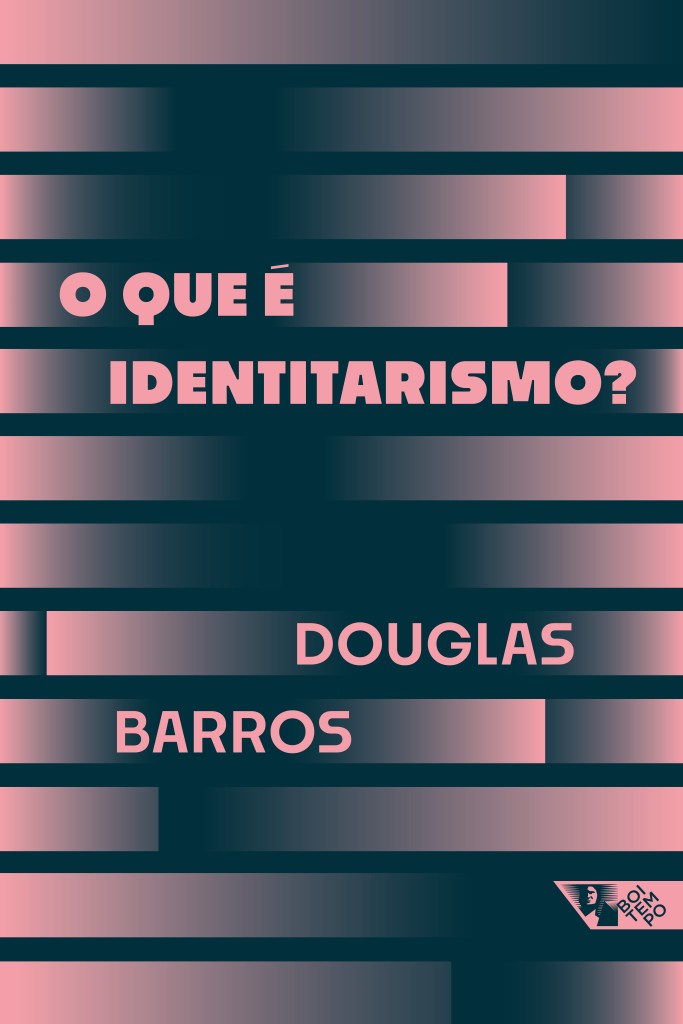
Deixe um comentário