Contra Nego Bispo

Imagem: Murilo Alvesso (via Itaú Cultural)
Por Douglas Barros
Inconscientemente alemão
Se a história nada nos ensina, pelo menos serve para mostrar que toda transformação de ordem estrutural traz consigo algo que rapidamente se torna, nos meios eruditos – ou nem tanto –, popular: a negação da realidade e, com ela, a negação da racionalidade. Exemplos históricos no assim chamado Ocidente não faltam: com a queda do Império Romano, a fuga para a religião possibilitou a emergência do poder da Igreja; com a Revolução Francesa, a reação romântica, construindo castelos nas nuvens, impôs a fuga para as montanhas.
Claro, é preciso separar os alhos dos bugalhos. A tradição romântica – sobretudo a alemã – tinha elementos progressistas e, mais que isso, do ponto de vista estético, tornou-se uma das mais espetaculares experiências artísticas. Na interessante contradição que animava o espírito romântico, jamais, porém, podemos esquecer sua tendência ao nacionalismo, que deu corpo a experiências antissemitas. Certamente havia um embate fundamental entre aqueles que queriam escolher o árduo caminho de tentar viver uma vida verdadeira – não reduzida ao império da burguesia – e aqueles que negavam a realidade para respirar o ar das alturas imaginárias de seu desejo.
Se alguns românticos queriam poetizar a própria vida, negando os princípios pequeno-burgueses, outros buscavam alcançar a harmonia e a homogeneidade de uma vida autêntica em sua própria alma. Parte dessa tendência aderiu a uma vida, ao mesmo tempo, conformada e evasiva. Esses românticos erguiam belos castelos nas nuvens e, como pequeno-burgueses – seria hoje a classe média branca ilustrada? – tomavam uma atitude passiva diante da realidade. Para eles, diferentemente de Belchior, sonhar é melhor do que viver.
Foram esses românticos – dentre os quais destaco Novalis – que organizaram um arcaico sonho na busca pela era perdida: uma nostalgia que procura no passado a grande realização de suas aspirações. Fala-se em ascendência – beleza do arcaísmo alemão e de sua ancestralidade: o homem perdido nas brumas do tempo que é preciso resgatar –, uma pureza das raízes que reconduziria à grandeza da coletividade homogênea e sagrada da língua, do território (geografia) e da fé (religiosidade pagã).
Além disso, é claro, se coloca em perspectiva os supostos crimes da razão: ela não importa diante dos sentimentos – hoje chamaríamos de afetos? A pseudorradicalidade dessa tendência de pensamento, que ressurgiu hoje, no século XXI, deixa de lado o mundo concreto, a necessidade da análise concreta, para erguer um mundo imaginário novo, radicalmente homogêneo e ultraidentitário, de acordo com a vontade do proponente – que imaginariamente buscará legitimidade numa tradição imaginária e mítica.
Ora, caro Watson, tudo isso deve ressoar familiar, afinal, o discurso da busca pelas raízes se espalhou no mundo globalizado – tudo um museu de grandes novidades, e lugar em que a extrema direita nada de braçadas. A novidade do século XXI, porém, é que grandes frações da esquerda – que, por motivos políticos e/ou ideológicos, abandonaram a reflexão crítica – reatualizaram, a seu modo “progressista”, uma gramática reacionária maldisfarçada de radical.
Os motivos para isso são múltiplos e interessantes:
- vivemos ainda na ressaca das ruínas da URSS, o que acaba equivalendo a experiência socialista à burocracia estatal;
- as revoluções permanentes no interior do capitalismo organizaram um poderoso arcabouço de dominação simbólica e imaginária, que acabou capturando a própria imaginação política;
- as transformações na sociabilidade, guiadas pela revolução informacional e pela dominação integral do tempo de vida – tornado agora tempo de trabalho –, também consolidaram um radical espírito antirracional, auxiliado até mesmo pelas universidades.
É esse Zeitgeist (espírito do tempo) que cria as condições para que a negação da verdade como relação objetiva e reflexiva se projete e se perverta na ideia da privatização da verdade em nome do subjetivismo. A verdade torna-se algo íntimo, ligada à apreensão de uma experiência identitária de mundo: uma pequena verdade de grupo orientada pela noção de vivência territorial. Os afetos passam a deter maior importância do que a possibilidade de reflexão sobre eles e o corpo torna-se mais importante que a alma.
É curioso, à primeira vista, comparar autores alemães do século XIX com um quilombola negro do Brasil; tal aproximação parece complicada. Ela soaria, de fato, incongruente se os fins a que aspiram não surgissem de um trauma em comum: a crise da sociabilidade que conduz à desconfiança em relação à razão, organizando respostas mítico-religiosas para impasses da realidade concreta.
O caso Nego Bispo
É difícil não nutrir simpatia por Nego Bispo. Seu carisma envolvente, fruto de sua relação umbilical com as lutas populares – sindicais e quilombolas –, cativava progressistas “urbanos”, como ele mesmo os chamava, oriundos da classe média branca e afastados do dia a dia popular. Figura conhecida nos meios progressistas desde os anos 1990, Antônio Bispo dos Santos (1959-2023) foi também uma liderança sindical no Piauí, ligado à corrente petista Tendência Movimento. Nela, exerceu relevância nos debates internos, em uma época em que falar em luta de classes não lhe representava um problema.
Desde então, ao encampar o debate antirracista, ele passa a desvinculá-lo cada vez mais da questão de classe e, aos poucos, abandona a análise do capital para se centrar na categoria colonialismo. Essa operação não deixará de produzir profundos impactos em sua maneira de se apropriar de “conceitos”, reorientando paulatinamente sua “crítica” para uma espécie de determinismo cultural. Afinal, não se separa o colonialismo de sua base material de produção impunemente.
Essa cisão no “pensamento” de Bispo – a separação do colonialismo de sua base material de produção – leva-o à recusa da análise material para aderir a uma noção de epistemologia como produtora de mundos. Trata-se da clássica inversão idealista: é a teoria do conhecimento que produziria o mundo material, e não o contrário.
Ao fazer essa escolha – sabe-se lá o que o conduziu a ela, provavelmente a desilusão com o movimento sindical e, sobretudo, com o PT –, Bispo afasta-se cada vez mais de uma crítica embasada na realidade material para adequar-se a uma noção cujos limites são ideológicos, no sentido pobre de ideologia – entendida como uma Weltanschauung ou, como seus seguidores preferem, uma cosmovisão.
É essa virada em direção à vaga noção de que o mundo é resultado de cosmovisões – quase alheias à reprodução social – que o leva a afirmar que “daqui para frente cada vez mais vai se discutir cosmologia, diversidade, politeísmo e cada vez mais as relações vão ser outras”1. E ele não se enganou completamente: cada vez mais esse assunto se torna central na grande mídia e na academia. Dificilmente se pode afirmar, porém, que isso tenha alterado algo das relações, haja vista o momento histórico atual, no qual o capitalismo já não se envergonha de mostrar seu rosto desumano.
É claro que Nego Bispo se importava com isso, mas sua escolha para combatê-lo se define por uma luta contra as “denominações” colonialistas, e não contra o sistema que as faz operar. É dessa maneira que ele estrutura um discurso cuja centralidade repousa na noção de cosmovisão como resposta às urgências das lutas sociais e, sobretudo, antirracistas.
Vou me orientar aqui na crítica a três linhas que organizam e dão contornos a seu discurso:
- a ideia de uma luta a-histórica entre cosmologias;
- a homogeneização da experiência colonial, que hipostasia o conceito de raça e
- a sustentação mítico-religiosa de sua “oralidade”.
Não se trata aqui de negar a complexidade do pensamento de Bispo, mas de identificar o eixo dominante que organiza suas formulações mais influentes e cujo impacto político é problemático. De aparência transgressora e anticapitalista, a análise crítica do “pensamento” de Nego Bispo revela, ao fim, um fundo passivo, mítico-religioso e romanticamente orientado, mais um sintoma do capitalismo de crise e da falta de perspectiva de transformação à esquerda2.
A luta cosmológica
O saber, para Bispo, é orgânico: não nasce da especulação ou do espanto, mas da criação que deve à ancestralidade seu caráter formador. A vivência é, então, posta como elemento central, e a relação com o território, como algo singular. Há, portanto, um caráter intuitivo, delimitado por aspectos geográficos – territoriais – e culturais. Tal posição ilustra uma visão essencialista, como se grupos não europeus, não brancos, ocupassem um lugar privilegiado na produção do conhecimento simplesmente por permanecerem no lugar da exclusão.
A objetividade cede espaço à subjetividade, e assim a longa marcha da consolidação simbólica da racialização torna-se um dado natural, já que não se coloca em questão sua produção histórica, orientada pela exploração moderna; ao contrário, toma-se a raça como atributo diferencial e privilegiado na produção do conhecimento por meio da “vivência”. Bastaria ter nascido quilombola – indígena ou negro – e ser criado no território para atuar ao lado da resistência e ter acesso a outros saberes. O que, como sabemos, é falso.
O modo subjetivista – da “vivência” como privilégio epistêmico – não se detém nas contradições produzidas por processos históricos díspares. A luta entre cosmologias pouco diz sobre o processo material escravocrata e sobre a necessidade da racialização como forma de dominação. Assim, entende-se a exclusão das benesses da modernidade – vivida pelos escravizados – como equivalente à exclusão total da modernidade, sem levar em consideração que a própria modernidade foi fundamentada pelo trabalho do escravizado.
Por isso, esse excluído passaria a supostamente deter um saber autêntico, porque orgânico, nascido no seio da Gemeinschaft – desculpem-me pelo alemão; da comunidade. “O pensamento operacionalizado pela escrita é um pensamento sintético, desconectado da vida. O nosso pensamento”, afirma Bispo, “movimentado pela oralidade, é um pensamento orgânico”3. Essa é a conclusão lógica dos pressupostos internos que organizam a “oralidade” de Bispo, sendo fundamental para conferir coerência à redução cosmológica que ele opera. Nesse sentido, torna-se necessário abandonar a análise concreta do colonialismo.
Entendendo por colonização “todos os processos etnocêntricos de invasão, expropriação, etnocídio, subjugação e até substituição de uma cultura pela outra, independentemente do território físico-geográfico em que essa cultura se encontra”4, Nego Bispo vê na luta cosmológica a possibilidade de um resgate ancestral-epistemológico capaz de restituir a comunidade originária. As especificidades do colonialismo se perdem barrando a possibilidade de análise crítica e historicamente orientada de suas determinações.
Homogeneização da experiência colonial e essencialismo racial
Sustenta a Weltanschauung (cosmovisão) de Nego Bispo a homogeneização das especificidades do processo escravocrata. Não importa as mediações e a complexidade de cada coletividade africana ou indígena, as especificidades precisam ser ignoradas em nome de uma unidade fornecida por uma identidade imaginária: os “contra-colonizadores”.
Como ele mesmo afirma: “vamos tratar os povos que vieram da África e os povos originários das Américas […] independentemente de suas especificidades e particularidades, chamando-os de contra-colonizadores. O mesmo faremos com os povos que vieram da Europa, independentemente de serem senhores ou colonos, tratando-os como colonizadores”5. A hipóstase dessa identidade imaginária fornece também o programa político. Já não importam as contradições que orientam encontros e desencontros históricos; o que vale, em última instância, é a essencialização da identidade – ou, em termos mais diretos, o identitarismo.
Assim, a luta entre supostas cosmologias – essencialmente atribuídas a “nós” e a “eles” – organiza uma cisão fundada em formações culturais ancoradas na experiência territorial. A terra converte-se em elemento definidor do caráter e da experiência histórica particular: um apriorismo essencial que distribui, segundo a cosmovisão de Nego Bispo, quem é colonizador e quem é contracolonizador.
Essa posição é coerente com a maneira pela qual Bispo compreende o colonialismo. Ao abandonar uma análise que o apreenda como forma objetiva e historicamente determinada de exploração – isto é, como relação social que cinde a humanidade racialmente para organizar um padrão específico de dominação mundializada –, ele o reconduz a algo a-histórico, orientado por uma “gana epistemológica” e sustentado por uma cosmovisão eurocristã.
O colonialismo passa, assim, a ser entendido sobretudo como uma relação epistemológica que impõe uma visão de mundo como forma de dominação. Vão-se os anéis e também os dedos: abre-se mão da análise das mediações históricas e da reprodução social em nome de uma fórmula dual e, diga-se de passagem, maniqueísta. Esvaziar o sentido histórico do colonialismo, entretanto, é condição necessária para que o programa contracolonial de Bispo se mantenha coerente internamente.
Marcado pela tentativa de reencontro com raízes imaginárias, o contracolonialismo torna-se, em Bispo, equivalente à emancipação humana, desde que se elimine tudo aquilo identificado como colonial. Para tanto, é preciso ignorar os processos históricos concretos e suas contradições, transformando o colonialismo em um tropo genérico, orientado por uma cosmovisão imaginária elevada à condição de princípio explicativo fundamental. O capitalismo se torna só um desenvolvimento lógico de uma suposta cosmovisão.
Há inúmeros problemas nessa conclusão, mas o que mais se destaca é a ausência de uma problematização acerca da constituição histórica da racialização. Mais grave ainda é a essencialização identitária que reduz a multiplicidade das experiências humanas a uma unidade imaginária vinculada ao território e a uma cultura supostamente estanque. Se não se detém nas contradições internas entre os próprios escravizados, tampouco se examina as distintas formas pelas quais o colonialismo estruturou seus regimes de exploração e o papel decisivo que o elemento racial desempenhou nesses processos.
Marcada por um viés subjetivista – centrado na “vivência” –, a teoria do conhecimento de Bispo reduz a verdade à experiência empírica mediada pela identidade. Trata-se, afinal, de um conflito entre “saberes” e “formas de vida” que ignora os processos de produção e reprodução sociais, reduzindo a complexidade das relações sociais a uma disputa por “denominações” – entendidas como a nomeação linguística da realidade. “É o que chamamos de guerra de denominações”, afirma Bispo, “o jogo de contrariar as palavras coloniais como modo de enfraquecê-las”6.
Sendo, antes de tudo – segundo o próprio Bispo – uma cosmovisão essencialista, o colonialismo só poderia ser combatido por meio de outra cosmovisão que lhe fizesse frente. Tal posição só se sustenta em seu caráter mítico-religioso, cuja fé repousa no resgate de valores cosmológicos politeístas como resposta política. O resultado é uma deificação identitária daqueles considerados contracoloniais e uma recomposição mítico-religiosa que promete livrar-nos de um mal absoluto, identificado com o cristianismo.
Um novo guru: a posição mítico-religiosa
Reduzindo a complexidade dos acontecimentos passados, Bispo reconstitui uma metafísica que orienta a limpeza supostamente colonial a partir da reativação do caráter mítico-religioso. A exploração e a violência coloniais estariam inscritas não em necessidades materiais, mas em uma cosmovisão que orientava a Europa.
Nesse excerto, isso aparece em todo o seu vigor: “me incomodava quando se falava que a escravidão no Brasil surgiu porque um modo de produção precisava de mão de obra escrava. Eu posso até concordar com isso, mas a pergunta é: quem determinou qual povo seria escravizado? Eu fui procurar essa determinação e encontrei a bula papal de 1455, escrita pelo papa Nicolau V no dia 8 de janeiro. […] Foi o cristianismo. E o cristianismo é uma religião monoteísta, de um deus só. O povo que o cristianismo, através desse papo, determinou que deveria ser escravizado eram os povos de religiões politeístas, ou de cosmologias politeístas”7.
Mais do que propriamente cristã, a visão de mundo europeia se caracterizaria pelo engessamento monoteísta, fechado à diferença e marcado pela busca de domínio. Se essa conclusão não está inteiramente distante da realidade, o problema reside em tomá-la como núcleo explicativo da cosmovisão e, mais ainda, em tornar o monoteísmo determinante da exploração colonial. Trata-se de uma linha teleológica e a-histórica que culpa o deus, e não as necessidades sociais concretas que lhe deram condições de possibilidade para surgir e se estabelecer.
Mais do que isso, inscreve-se nessa conclusão uma luta de afirmação religiosa: o cristianismo teria determinado que deveriam ser escravizados os povos de religiões politeístas, como se a religião fosse condição sine qua non para a escravização. Essa noção não resiste minimamente à prova histórica, já que o critério da escravização moderna era ser africano ou indígena, e não monoteísta ou politeísta. Sabemos de milhares de africanos muçulmanos que foram continuamente escravizados.
Isso não deixa de levar em consideração que, sim, o cristianismo funcionou como legitimação ideológica da escravidão, mas não como sua causa determinante. Apelando, porém, para uma teleologia bíblica, Nego Bispo vê inscrita na religiosidade cristã a determinação fundamental da escravização moderna. E, para sustentar essa posição, ele se utiliza do que alcunha de cosmofobia: “A cosmofobia é a necessidade de desenvolver, de desconectar, de afastar-se da originalidade. A cosmofobia é a mesma coisa que o pecado original. E tudo o que é original assusta o eurocristão monoteísta”8.
Novamente se marca, em sua posição, a ideia de originalidade e de resgate das raízes, orientada pela recomposição de uma identidade imaginária vinculada a uma religiosidade diferente da religião colonial. Enfim, opta-se pela recusa do deísmo cristão (do mal) em nome de um politeísmo (do bem). Ambos se tornam a-históricos e marcados por um essencialismo: cristianismo monoteísta, de saberes sintéticos, versus politeísmo contracolonial, de saberes orgânicos.
Na medida em que o leitor se acostuma com as obras de Nego Bispo, percebe-se um mesmo mote: a homogeneização a-histórica de processos históricos específicos e contraditórios surge como possibilidade de tamponar as debilidades conceituais e epistêmicas por ele utilizadas. Tal como o cristianismo se reduz a uma teleologia cuja finalidade seria a escravização, também o politeísmo aparece como uma mixórdia de elementos indistintos, de apelo mágico.
Ou seja, não se sabe bem se se trata de religiões de matriz africana e de experiências com o sagrado nas comunidades originárias ou simplesmente de uma nova religião na qual Nego Bispo figura como mentor. O que se sabe, porém, é que a vivência, a identidade fechada e o saber correlacionado ao território e a empiria são pressupostos fundamentais de uma contracolonização em abstrato.
Seja como for, esse movimento parece correlacionar-se com o abandono da análise histórica e da preocupação com o modo de sociabilidade capitalista. Quando se opta por interpretar o colonialismo como um dado oriundo de uma cosmovisão – e não como uma especificidade histórica ocasionada por transformações materiais pontuais – abandona-se a reflexão sobre as contradições e as relações internas à reprodução da vida social.
Os efeitos práticos e políticos dessas noções são preocupantes e perigosos: primeiro, porque se essencializam diferenças surgidas de processos históricos contraditórios; segundo, porque, ao essencializar tais diferenças como identidades estanques (identitarismo), corta-se qualquer possibilidade solidária; e, por fim, porque se compreende a racialização como um dado a-histórico. Além disso, se tudo é uma questão de cosmovisão, a extrema direita parece ter entendido isso muito bem e sai em defesa de sua identidade eurocristã. Se agimos como ela, não me parece que estamos no caminho razoável.
Enfim, se o que define alguém como colonizador ou contracolonizador é tão somente a cor da pele, o território e a religiosidade, e não um processo materialmente organizado em torno de uma sociabilidade que delimita sua forma de ser e estar no mundo, então o espaço de sua liberdade está tolhido. Se a cosmologia é aquilo que define o sujeito moral e eticamente, então esse sujeito é apenas um objeto.
Se a religião é a causa determinante dos movimentos históricos, e não as relações materiais que a produziram, então basta retornarmos à luta religiosa. É aqui que as conclusões de Nego Bispo se tornam ainda mais perigosas: “como no mundo monoteísta só há um deus, é uma disputa permanente. O povo de Israel contra o povo da Palestina, por exemplo. Estão se matando na disputa por um deus. No nosso caso, não é preciso: temos Exu, Tranca Rua, Pomba Gira, Maria Padilha… Se não estamos com um, estamos com outro.”9 Se a disputa é a religião como fundamentação da cultura e da cosmovisão, os laços solidários são cortados.
As posições de Nego Bispo não conduzem apenas à insensibilidade diante da causa palestina; elas operam algo ainda mais grave: reduzem a complexidade histórica e política do presente a uma suposta guerra entre religiões. Ao fazê-lo, dissolvem relações materiais, interesses geopolíticos e determinações históricas concretas numa narrativa mítica confortável. Enquanto o mundo caminha para a guerra mais tecnologicamente sofisticada da história humana é obscenamente confortável refugiar-se numa cosmologia imaginária de “povos originários” igualmente imaginados – consumida, não raro, no interior de apartamentos gentrificados de Santa Cecília, Leblon ou Vila Mada.
Numa época em que todos parecem buscar um mestre, ou um guia espiritual para justificar a abdicação do pensamento crítico, permitam-me declarar, sem ambiguidade: fico fora dessa.
Notas
- BARBOSA NETO, Edgar Rodrigues; SILVA, Natalino Neves da; LOWANDE, Walter Francisco Figueiredo. Entrevista “Estamos no começo do replantio das palavras”: uma conversa com Antônio Bispo dos Santos (Nego Bispo). PerCursos, Florianópolis, v. 24, p.6, 2023. ↩︎
- Devo todas as observações e a necessidade de leitura dos textos de Bispo à excelente dissertação de Patrick Leonardo da Silva Oliveira em que fui membro da banca de avaliação (Cf. OLIVEIRA, Patrick Leonardo da Silva. A crise da razão e a questão racial: elementos para uma crítica ontológica do irracionalismo de esquerda contemporâneo. 2025. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025.) ↩︎
- BISPO DOS SANTOS, Antônio (Nêgo Bispo). Somos da terra. Piseagrama, nº 12, 2020, p. 44–51. ↩︎
- BISPO DOS SANTOS, Antônio. Colonização, quilombos: modos e significados. Brasília: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa (INCTI), 2015, p.48. ↩︎
- Ibidem, p. 32. ↩︎
- BISPO DOS SANTOS, Antônio (Nêgo Bispo). A terra dá, a terra quer. São Paulo: Ubu / Piseagrama, 2023, p. 13. ↩︎
- BISPO, Antônio (Nêgo Bispo). Entrevista com Renato Noguera: Por que essa questão da cosmologia? In: Amarello — Cultura, 2022. Disponível aqui. ↩︎
- BISPO DOS SANTOS, Antônio (Nêgo Bispo). A terra dá, a terra quer, cit., p. 27-30. ↩︎
- BISPO DOS SANTOS, Antônio (Nêgo Bispo). A cosmofobia e a disputa dos deuses. In: Cidades e cosmofobia. São Paulo: publicação independente/opinião, 2023, p. 19. ↩︎
***
Douglas Rodrigues Barros é psicanalista e doutor em ética e filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Professor na pós-graduação em filosofia da Unifai. Investiga principalmente a filosofia alemã conjuntamente com o pensamento diaspórico de matriz africana e suas principais contribuições teóricas no campo da arte e da política. Pela Boitempo, publicou O que é identitarismo? (2024). Escritor com três romances publicados, também é autor dos livros Lugar de negro, lugar de branco? Esboço para uma crítica à metafísica racial (Hedra) e Hegel e o sentido do político (lavrapalavra).
O que é identitarismo?, de Douglas Barros
Na última década, um termo tem se proliferado de maneira espantosa no discurso político. Moralmente carregado e lançado a torto e a direito em disputas de internet, mesas de bar, espaços acadêmicos e palanques políticos. Mas, afinal, o que é identitarismo? Na interpretação original do psicanalista Douglas Barros, o termo nomeia sobretudo uma forma de gestão da vida social contemporânea que engole esquerda e direita. Com um olhar da periferia do capitalismo sobre a colonização, Douglas revisita, pelo prisma da identidade, o surgimento e desmonte do sujeito, do Estado e do capitalismo modernos para jogar luz sobre os impasses da política contemporânea.
Descubra mais sobre Blog da Boitempo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

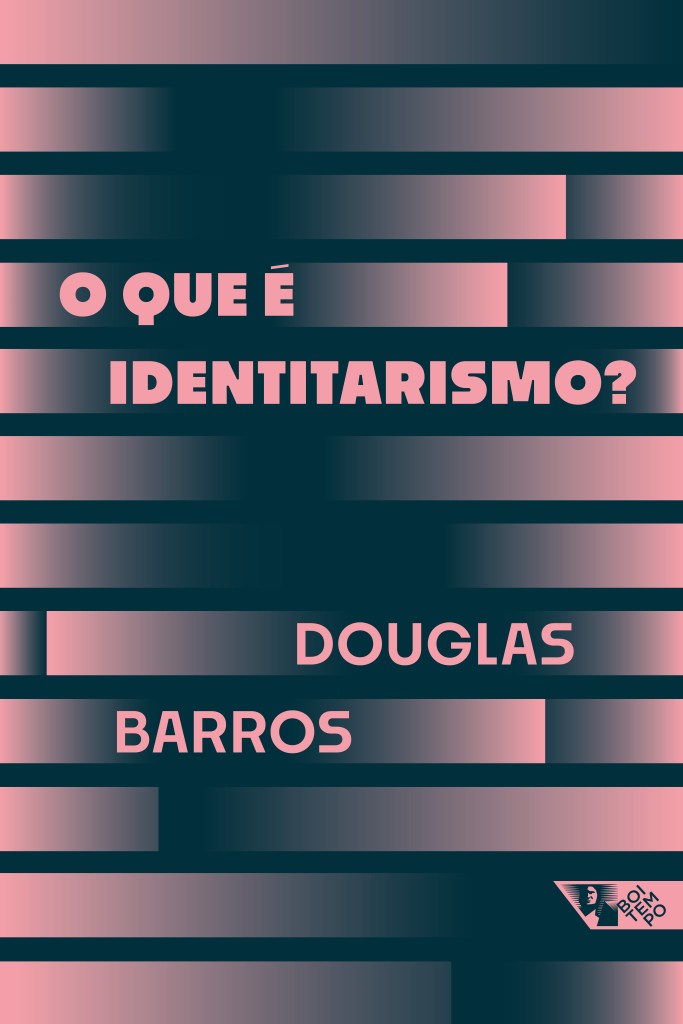
Como dizia o velho deleuze, quando morre um grande pensador os idiotas fazem um barulho dos diabos
CurtirCurtido por 2 pessoas
Elabore uma boa resposta. Ou “não cabe nem resposta” ao texto?
CurtirCurtido por 1 pessoa
Excelente artigo. Não conhecia Douglas Rodrigues Barros, agora, passei a admirá-lo. Vou conhecer suas obras. Parabéns à Boitempo.
João José. ________________________________
CurtirCurtido por 3 pessoas
Enquanto liderança Quilombola que sou digo: peçam licença para falar dos nossos ancestrais, dos nossos mestres e mestras. Escrevam suas próprias narrativas mas não se achem superiores ao ponto de criticarem nossos saberes. Ao tentar diminuir o pensamento do Mestre Bispo reforça o projeto genocida sobre nossos corpos e territórios.
Não se crítica o que se desconhece e dificilmente os brancos e os não quilombolas saberão a profundidade dos nossos saberes, temos ancestralidade viva, somos donos de saberes transmitidos apenas pela oralidade e isso o colonialismo não conseguiu nos roubar. Respeitem o pensamento Quilombola, nos respeitem.
CurtirCurtido por 3 pessoas
vocês, donos da vanguarda do pensamento e marxistas vulgares parece que não esqueceram de operar igual Tarzan né? Vão se foder, isso que tá escrito é puramente etnocído. Respeitem o Nego Bispo
CurtirCurtido por 1 pessoa
Olá, camarada! O Blog da Boitempo é um espaço plural de debate teórico e político no campo da esquerda. Considerar a crítica imanente a uma determinada concepção teórica (o que justamente pressupõe sua valorização enquanto estrutura conceitual) um “epistemicídio” (apagamento de uma forma de conhecimento) nos parece despropositado. Argumentos divergentes são sempre bem-vindos, e inclusive incentivamos vivamente o envio de textos de opinião com bons argumentos — e que não façam ofensas pessoais — para possível publicação aqui no Blog da Boitempo. Os xingamentos, porém, a gente dispensa. Paz (sem suprimir o debate franco de ideias!) entre nós, guerra aos Senhores!
CurtirCurtido por 2 pessoas
Certeiro! Respeito muito a trajetória e a complexidade do pensamento de Nêgo Bispo, mas há lacunas evidentes. Apontá-las COM RESPEITO não diminui sua importância para os povos das margens, sobretudo quilombolas.
Dito isso, é imperativo problematizar a separação que ele faz da gramática colonial e da plataforma material que a sustenta, o capitalismo. Se, como disse a companheira acima “não se crítica o que se desconhece”, é justamente através das obras de Nêgo Bispo que acessamos seu pensamento e, sim, ele também é passível de lacunas.
Esse choque de cosmovisões que ele propõe não é autogerido: se inicia e se mantém pela dominação material de corpos, povos, culturas.
Todo respeito aos saberes das margens, das favelas, das ruas, das encantarias, dos quilombos, aldeias e terreiros, mas não, o essencialismo NUNCA é a resposta.
CurtirCurtido por 3 pessoas
A quem interessa a produção desse texto?
Com que fim o autor se digna a descrever o PENSAMENTO de Nego Bispo como “pensamento”?
É porque vem do lugar da não-academia?
Fosse Nego Bispo também “doutor” em “filosofia” o autor também chamaria o seu PENSAMENTO de “pensamento”?
Viesse o PENSAMENTO de Nego Bispo das alças páginas das teses universitárias, conseguiria o autor criticá-lo e com ele dialogar sem reduzi-lo ao “mero” lugar da cosmovisão?
E, por último, não há na casa do autor uma lavagem de roupa, um lote a carpir ou uma resenha a escrever que lhe ocupe o tempo de forma que ele não precise se levantar de sua torre para atacar gratuita e desnecessariamente a memória de um homem que chegou onde o “doutor” jamais colocaria seus pés?
CurtirCurtido por 2 pessoas
Sua resposta não atenta o foco do texto. Não está sendo discutido se o saber é superior ao outro, mas a sua relação com a realidade material. Neste ponto, o autor coloca questões prementes.
Evocar respeito para fugir de discussão de alto nível é apelar para o dogmatismo e arrogância.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Acho que você precisa reler o texto!
O autor só consegue enxergar Bispo através do espelho deformado da tradição europeia.
CurtirCurtir
a Boitempo deveria ficar envergonhada em publicar um texto tão enfadonho, despossuído de potência e cheio de equívocos.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Texto indispensável para começarmos o ano com coragem e dando nomes aos bois na contramão da história.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Você conhece os textos de Bispo? E dos autores referenciados? Teoria Crítica?
CurtirCurtir
Caros leitores,
Eu já supunha que as reações a este artigo seriam apaixonadas, afinal optei por criticar um ícone supostamente incriticável. Chama atenção, no entanto, as tergiversações presentes em todas as críticas que lhe foram dirigidas, evitando enfrentar o cerne da questão: a essencialização dos conceitos de raça e de colonialismo proposta por Nego Bispo.
Para fugir disso, opta-se por diversos expedientes – que vão desde xingamentos até acusações de um suposto epistemicídio – e por interpretações livres e intuitivas, enganosas e de má-fé, para afirmar que eu – quem diria? – defenderia um suposto elitismo acadêmico. Deixo aqui explicado o motivo das aspas em “teoria”:
Era o próprio Nego Bispo que se recusava a se colocar como teórico; para ele, o pensamento reflexivo era sintético, e a escrita (apesar de vários livros editados) matava a experiência da oralidade. E assim essa acusação contra mim não apenas revela má-fé na interpretação do artigo (se é que quem acusa de fato o leu), como também ignora o próprio texto e as entrevistas de Bispo.
Nego Bispo se colocava como não teórico. Recusando a posição de “teórico”, como produção abstrata, sistemática, escrita, supostamente separada da vida, da oralidade e da prática comunitária, para ele o conhecimento surgia da vivência: da centralidade da oralidade.
Apesar de afirmar o contrário, é óbvio que ele produz “teoria” (daí às aspas) a partir de uma perspectiva que coloca em evidência uma vivência (marcada pelo empirismo intuitivista). E apesar de “anti-teórico”, Nego Bispo formula conceitos (colonialidade, confluência, contracolonização) eopera generalizações, sobretudo marcada pela noção de colonização e raça numa perspectiva que retira o caráter processual da história e a dinâmica forjada pelo modo de reprodução social organizado pela modernidade.
O que fiz no artigo? Simplesmente respeitei a autodefinição política dele como “não teórico” sem, entretanto, abdicar da análise crítica do conteúdo teórico que ele efetivamente produz. Aliás a recusa da palavra “teoria”, não é inocente, ela se torna um escudo contra a crítica, se não é teoria tampouco pode ser criticado. Se o conhecimento se reduz a vivência então só quem viveu pode criticar. (Não é à toa que me pedem para pegar na enxada ou me creditam sudestino e branco, estão só seguindo os ensinamentos do mestre)
No mais, as reações apenas tornaram evidente o que muitos já intuíam: o radical anti-marxismo presente na esquerda brasileira (Marx não é bicho-papão apenas para a direita) e o descompromisso com uma teoria radical que leve em consideração a processualidade histórica e tome a crítica da economia política como seu cerne. Disso decorre, como consequência, o espírito anti-intelectual que marca o nosso tempo cuja novidade é advir de acadêmicos que negam a academia sem negar os editais produtivistas da Capes e etc…
Por fim, sigo tranquilo buscando a consolidação de uma perspectiva antirracista crítica, que seja antirracialista, sempre observando as múltiplas contradições dos processos históricos e jamais tirando o pé daquilo que é a centralidade da sociedade contemporânea: a economia política. A única forma de conseguir dar respostas políticas efetivas, defender territórios e abrir caminhos para outra realidade que supere a sociedade da mercadoria, afinal, vivemos num único e mesmo mundo e as pontes para a solidariedade são mais do que necessárias: são urgentes.
Abraços aos bem-intencionados
Douglas Barros
CurtirCurtido por 4 pessoas
Não doutor, ninguém é incriticável… nem mesmo Vossa Senhoria… que parece não ter percebido da mesma forma que se propôs, vorazmente, criticar.
Você diz seguir “tranquilo”. A tranquilidade do intelectual que não teve seu território invadido, seu povo assassinado, sua memória rasurada. Essa tranquilidade, permita-me dizer, é um privilégio que Bispo não teve.
O debate sobre sua obra não precisa — nem deve — ser imune à crítica. Mas crítica não é desqualificação, não é patologização, não é silenciamento póstumo. O problema do seu texto não é ser crítico, é ser, sim, epistemicida — não por intenção declarada, mas por efeito prático.
O quilombo, felizmente, não precisa de habeas corpus acadêmico. Ele segue existindo, com ou sem autorização. Mas aqueles que, da universidade, ainda acreditam que o pensamento crítico pode ser enriquecido pelo encontro com saberes outros — esses continuarão devendo a Nego Bispo uma escuta que seu texto, infelizmente, não concedeu.
CurtirCurtido por 1 pessoa
“O quilombo, felizmente, não precisa de habeas corpus acadêmico”, sinceramente? Eu acho que a proposta nem é essa.
Se você entende que “a crítica não é desqualificação, não é patologização, não é silenciamento póstumo” porque então não aponta onde Bispo foi desqualificado, patologizado e silenciado?
Sobre a tranquilidade enquanto um previlégio, eu concordo, mas porque atribuir a esse previlégio uma desqualificação?
A idéia da crítica é buscar apontar caminhos para que a luta quilombola seja mais efetiva na transformação da sociedade, em nenhum momento houve esse silenciamento e desqualificação, o que houve foi apenas um apontamento das razões dos limites presentes na produção teórica (inclusive não oral) de Bispo, é preciso entender o processo de formação da luta de classes e deixar de olhar a crítica como fogo amigo, se a crítica de Douglas é errada, que o critiquem, entretanto, apontando as lacunas em suas sínteses, e não atacando o próprio ato de criticar
CurtirCurtir
AGORA É LEI
Dá cadeia para quem me chamar de negro analfabeto
Só não dá cadeia para quem impõe o analfabetismo,
obstruindo meu acesso às escolas
Dá cadeia para quem me chamar de negro burro
Só não dá cadeia para quem me chamar de “moreno”,
Mesmo sabendo que com isso querem me transformar
em um híbrido
E assim como aos burros, negar as condições de
reprodução da minha raça
Nego Bispo
CurtirCurtido por 1 pessoa
Nego Bispo precisa ser refutado em muitas coisas… mas não dizendo que a “alma” é mais importante que o corpo… Isso é cristianismo página 1, fraquíssimo.
CurtirCurtir
Parei no “desculpem-me pelo alemão”.
Ali está comprovado porque Nego Bispo incomoda. Tenha dó da nossa paciência.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Consigo até visualizar Mestre Nego Bispo deitado na rede com seu olhar sereno e maroto, um copo de café na mão e uma gargalhada da prepotência que o colonizador tem em continuar julgando, avaliando e validando a cosmovisão de todos os povos a partir da SUA academia e sua própria epistemiologia. Como se a ciência quilombola e seus saberes precisassem da validação deles para continuar existindo. Todos cairiam na risada e passaríamos o resto do dia ouvindo, aprendendo e produzindo bem viver em nosso território.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Texto impecavelmente crítico e analiticamente correto. Ou se segue a análise material e concreta da realidade para mudá-la, ou se é conivente com o que aí está. Parabéns camarada!
CurtirCurtido por 1 pessoa
Há gentes que querem o caminho mais seguro… eu prefiro navegar pelos desaprenderes… e, dentro disso, o Nego Bispo me exige humildade para escutá-lo.
CurtirCurtido por 1 pessoa
O texto traz um debate importante, mas comete um erro muito comum nas universidades, que é o de tentar julgar conhecimentos populares e ancestrais usando apenas as regras do pensamento europeu. Quando diz que Nêgo Bispo foca demais na “identidade” e esquece a “economia”, não percebe que separar esses dois conceitos são invenções dos próprios colonizadores. Outra, é verdade que focar na cultura ou na raça significa esquecer o dinheiro e o trabalho. Podemos ver em Ramón Grosfoguel, que explica quando a colonização chegou, ela não trouxe só um sistema econômico, mas um “pacote completo” que incluía racismo, religião imposta e exploração. O desejo de conquistar veio antes do desejo de lucrar, portanto, quando Nêgo Bispo critica a visão de mundo colonial, ele está atacando a própria raiz do problema que permite a exploração econômica, e não fugindo da realidade.
Além disso, dizer que a defesa da identidade divide as pessoas ignora a realidade vivida por quem é colonizado. Frantz Fanon ensinou que o racismo marca o corpo e a vida, fazendo com que pessoas negras vivam situações onde muitas vezes não são tratadas como humanas. Pedir para deixarmos nossa identidade de lado em nome de uma “união universal” acaba sendo uma violência, pois apaga quem somos. A verdadeira solidariedade, como diz Audre Lorde, nasce quando respeitamos nossas diferenças e entendemos que precisamos uns dos outros, e não quando tentamos esconder o que nos torna únicos.
Por fim, a crítica de Barros cai no perigo que Audre Lorde avisou quando disse que “as ferramentas do mestre nunca vão desmantelar a casa-grande”. O autor usa uma linguagem acadêmica difícil e regras rígidas para desvalorizar a sabedoria oral e comunitária, exigindo que um mestre quilombola fale e escreva como um professor universitário para ser levado a sério? (ironizando o termo comunidade quando traz o conceito em alemão, não há mínima comparação). O pensamento decolonial não é uma fuga para lendas ou mitos, mas uma tentativa séria de mudar o mundo, buscando uma sociedade onde o dinheiro não seja a única coisa que importa e onde os saberes ancestrais sejam vistos como tecnologias de sobrevivência contra um sistema injusto. Lógico que para acadêmicos que defendem o marxismo (como religião, devolvendo a mesma crítica feita a Bispo) não vão querer perder seu altar.
CurtirCurtido por 3 pessoas
Sigo o Douglas Barros já tem um tempinho. É, com certeza, um dos autores que mais aguardo os escritos, porque me ensina demais, faz refletir e ressoa profundamente. E você, Douglas, mais uma vez, não me decepcionou. Por outro lado, é assombrosa a irracionalidade do debate neste fórum, no sentido que preferem atacar a persona (que não conhecem) do que discutir argumentos. O que o autor fala é tão verdade que as opiniões são binárias, dividindo entre “amigos” e “inimigos”. Não sou da mesma corrente de pensamento do Douglas, mas tenho um prazer imenso em ver alguém disposto a debater ideias e visões de mundo, sem criar heróis, ídolos e vilões. Continuarei a acompanhar este grande pensador contemporâneo.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Nunca tinha lido nada de Douglas Barros. E adorei minha estreia na leitura de seu trabalho. Muito pertinente a menção ao conflito entre Israel e o povo palestino, tratado pela extrema-direita, no Brasil e no mundo, como expressão de uma disputa religiosa entre a tradição judaico-cristã e a tradição islâmica, narrativa que serviu de base ao apoio do bolsonarismo e do trumpismo ao massacre dos palestinos de Gaza. Não podemos esquecer que a associação entre território, raça e cultura ancestral foi uma das bases do regime nazista na Alemanha, ideia que também marcou o movimento integralista no Brasil e a corrente verde-amarela do modernismo paulista. “São Paulo, terra de gigantes, desbravada pela ação corajosa dos bandeirantes”. Nessa onda, as bases materiais da exploração capitalista são apagadas e substituídas pelas questões identitárias. Uma luta que se trava no terreno de identidades imaginárias é muito mais interessante para as elites dominantes do sistema capitalista. Parabéns, Douglas Barros.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Parece um gerador de lero lero, texto pedante e chato!
CurtirCurtir
Reli. Achei a crítica excelente. Até o momento, nenhuma crítica ao texto do Douglas apontou onde ele está errado. O anticomunismo/marxismo segue vivo e crescendo.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Excelente texto de Douglas. Em uma época na qual “vivência” tornou-se sinônimo de epistemologia, vemos como precisamos de hegelianos combatendo as falácias nessa nova época de militância identitária e cega.
Silvio Almeida publicou ontem texto também se posicionando na mesma direção. Passaram-se anos de estupidificação do debate público diante de nosso próprio campo político, mas estamos finalmente deixando para trás esta fase de irracionalismos e subjetivismos.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Uma pergunta simples: entre a visão sobre o Brasil, você Douglas, apoiaria mais a visão de Habermas ou do Nego Bispo? Qual dos dois você escolheria para melhor interpretar nossa identidade cultural?
Obs: Duas matérias interessantes para comparar o pensamento dos dois
CurtirCurtir
Deve ser muito difícil, pro autor do texto, ver que acumulou tantos títulos, leu tantos livros e, no fim, é um sujeito menos relevante que o Nego Bispo, um agricultor quilombola lá do Piauí. Procure um psicanalista, meu jovem, ainda tem cura. Abs, desejo sorte.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Contra Nego Bispo vs. Com Nego Bispo
Nada mais produtivo que uma crítica bem fundamentada, a exemplo da elaborada por Douglas Barros, para introduzir um debate sobre o legado de Nego Bispo.
A crítica “Contra Nego Bispo” se ancora numa tradição filosófica que permite o autor, com sua expertise no campo, lançar luzes sobre alguns aspectos problemáticos associado ao seu “essencialismo”, o que tem como um custo a desconsideração dos aspectos mais relevantes do legado do quilombola, os quais podem ser evidenciado a partir do mote: Com Nego Bispo.
Os aspectos problemáticos ressaltados por Dougla Barros é uma contribuição positiva ao debate, mas em função da sua opção filosófica/metodológica não ilumina os aspectos os aspectos positivos do legado de Nego Bispo, o que pode ser posto em cena, ao adotar-se frames analíticos ancorados em outras referências filosóficas, a exemplo das que se filiam a fenomenologia de Meleau-Ponty e a filosofia da linguagem adâmica de Walter Benjamin.
É possível acessar aspectos relevantes do legado de Nego Bispo, a partir de um frame ancorado na fenomenologia de Merleau-Ponty, dado que ambos recusam a ideia de um sujeito abstrato diante de um mundo-objeto. Ambos afirmam, cada um a seu modo, que o mundo é sempre vivido por dentro, e que o pensamento nasce do corpo situado: o pensamento é encarnado. A partir do que se pode extrair do legado de Nego Bispo, não só o embrião de uma ontologia do vivido, do território como carne, mas também uma fenomenologia da sobrevivência em vários níveis. O quilombo, para Bispo, não é apenas forma social.É forma ontológica: um modo de ser-no-mundo.
CurtirCurtir
Vários autores, como Boaventura de Sousa Santos, ainda com um caráter bem duvidoso, escreveu vários livros elogiando as tais “Epistemologias do Sul”. Um monte de gente fez o mesmo. Agora me diz: cadê um parágrafo sequer criticando esses caras? Eu nunca vi. Mas é só um quilombola sem diploma universitário meter o dedo nas epistemologias e modos de vida do Norte que brota até artigo contra.
Onde estão as críticas a Ailton Krenak quando ele fala de memória ancestral e do pensamento indígena? Onde estão as críticas a Abdias do Nascimento, que formulou o quilombismo? Alías, o que Nego Bispo propõe é, basicamente, levar essa ideia adiante. Só que, como ele não tem carimbo universitário, cai matando em cima dele.
Esse artigo parece mais um despeito de quem não consegue viver sem lamber bota de acadêmico europeu do que uma crítica honesta a Nego Bispo. E como o próprio Nego Bispo dizia, as academias são ninhos do colonialismo.
CurtirCurtido por 1 pessoa
É exatamente isso!
CurtirCurtir
O texto é um monumento à má-fé acadêmica e ao cientificismo. Sob o pretexto de uma crítica rigorosa, ele opera um sequestro epistêmico: para julgar Nego Bispo, é necessário primeiro traduzi-lo — e, na tradução, traí-lo.
A operação é clara e vil: antes mesmo de citar Bispo, gasta-se parágrafos inteiros discorrendo sobre o romantismo alemão, Novalis e a reação à Revolução Francesa. Por quê? Porque precisa, inconscientemente — ou talvez de forma muito consciente —, domesticar o pensamento quilombola. Ele só consegue enxergar Bispo através do espelho deformado da tradição europeia. É como se dissesse: “Não consigo compreender um pensador negro que não seja um epígono tardio de Novalis”.
A negação da autonomia intelectual de Bispo é a violência inaugural do texto. Um quilombola – ou qualquer outro não acadêmico – não pode simplesmente pensar a partir de sua experiência, ele deve, necessariamente, estar reatualizando alguma corrente marxista. O racismo epistêmico aqui é tão explícito que chega a ser didático.
O autor insiste numa dicotomia rasteira: ou se faz análise materialista (leia-se: marxista ortodoxa, nos termos que ele aprova) ou se cai no “idealismo” e na “cosmovisão”. Essa oposição, além de filosoficamente ingênua, é politicamente autoritária.
O autor se anuncia como “autor negro”. Isso é relevante não como credencial biológica, mas como estratégia textual. A autoidentificação racial opera aqui como um passe livre: “Posso atacar Nego Bispo com mais virulência que um branco porque minha negritude me imuniza contra a acusação de racismo”.
É o que se poderia chamar de antirracismo predatório: o uso da própria identidade racial para desqualificar outras vozes negras, especialmente aquelas que construíram trajetórias orgânicas, comunitárias, não-acadêmicas. Barros, doutor, escrevendo da universidade, julga o sindicalista quilombola que ousou pensar fora dos cânones. Há um nome para isso: violência simbólica de classe dentro do próprio movimento negro.
O autor acusa Bispo de “essencializar” a identidade negra. Mas quem está essencializando? Bispo fala em contracolonização — um movimento, uma práxis, uma re-existência. O autor lê isso como “identidade estanque” porque sua lente marxista ortodoxa só consegue ver “classe” ou “raça”, nunca a interseccionalidade viva que Bispo praticava.
O autor chega a insinuar que o pensamento de Bispo é “confortável” para a classe média branca. Essa é uma acusação não apenas falsa, mas perniciosa. Nego Bispo passou a vida no sindicato, no quilombo, na luta concreta. Quem está confortável em um escritório com ar condicionado não é Bispo — é o “intelectual” que o julga postumamente.
A parte do texto sobre a Palestina é obscena. A declaração de Bispo sobre Exu, Tranca Rua e a não-monopolização do sagrado é uma crítica ao monoteísmo colonial, não uma análise geopolítica da Palestina. Assim, que se discorde da análise de Bispo sobre o Oriente Médio, usá-la para desqualificar todo o seu legado é um golpe baixo. É como se a “correção política” de Barros sobre a Palestina fosse o critério último para salvar ou condenar um pensador quilombola.
Não se trata de imunizar Bispo contra críticas. Pensadores devem ser debatidos, O autor não dialoga com Bispo; ele o patologiza. Porém o texto não é uma anomalia, é um sintoma.
Nego Bispo sobreviverá a esse texto. Seu pensamento, enraizado na terra, na lida, na comunidade, resistirá aos ataques dos “críticos” de gabinete. O que o autor não compreende — e talvez nunca compreenderá — é que o quilombo não precisa da aprovação da universidade para existir. A universidade é que, por mais que tente, continuará devendo ao quilombo.
Nego Bispo não era um romântico alemão inconsciente. Era um intelectual orgânico conscientíssimo. Se Barros não conseguiu ouvi-lo, o problema não está na oralidade de Bispo — está na surdez seletiva de quem só escuta ecos de si mesmo.
CurtirCurtido por 1 pessoa