Você aceita um band-aid, melhor mãe do mundo?

Foto: Divulgação.
Por Matheus Cosmo
[Atenção, spoilers na pista ⚠️]
“Essa imagem da mulher negra forte é muito cruel. As pessoas se esquecem de que não somos naturalmente fortes. Precisamos ser porque o Estado é omisso e violento. Restituir a humanidade também é assumir fragilidades e dores próprias da condição humana. Somos subalternizadas ou somos deusas. E pergunto: quando seremos humanas?”
— Djamila Ribeiro
“A senhora replicou: ‘Essas mulheres têm isso no sangue!’ Finalmente, Carolina, um depoimento que não fala de negros cochilando, um espanador sobre as pernas!”
— Françoise Ega
“O filme fala sobre lixo”: esta foi uma das considerações de Anna Muylaert acerca de sua mais recente produção cinematográfica, a saber, A melhor mãe do mundo, cuja estreia nas telas nacionais ocorreu na última quinta-feira, dia 7 de agosto. Exibido no último Festival de Berlim e no Festival de Guadalajara, no México, o longa-metragem traz ao centro das cenas uma mulher chamada Gal. Brilhantemente interpretada por Shirley Cruz, ela é mãe de duas crianças e vítima das agressões do ex-marido — um homem a quem, no ápice de sua força e coragem, a mulher se refere como coitado, abdicando discursivamente do posto mais fraco desta batalha. Essa é uma das primeiras cenas do filme, embora represente na verdade o último episódio da história contada, se reconstituíssemos o roteiro em termos cronológicos convencionais.
Em partes, é preciso concordar com Anna Muylaert: os movimentos panorâmicos das câmeras, que ampliam o alcance da tela e possibilitam a visão geral da cinza cidade de São Paulo, criam a distância necessária para que o olhar de cada espectador veja a totalidade do centro urbano. No cruzamento entre depósitos de lixo e viadutos, não se pode distinguir o que é sujeira, produção massificada de dejetos de toda ordem, do que ainda parece dotado de algum sentido e utilidade. A face complementar do progresso industrial e tecnológico paulista revela-se na produção de excedentes que instauram o lixo mercadológico e humano, denunciando tudo aquilo que já não pode ser incorporado à cidade grande nem mantido sob o radar de alguma mínima visão e reconhecimento — e que talvez, justamente por isso, tanto insiste em se mostrar e revelar em cada esquina da cidade, ao longo de todas as cenas.
De fato, a sensibilidade que norteia a formalização dos quadros de Muylaert faz com que seu espectador seja levado por um fio estético e narrativo que é feito sobretudo a partir da força de uma mulher negra em meio ao lixo. A mãe que anda pelas ruas e avenidas de São Paulo em direção ao estádio do Corinthians, na Zona Leste da cidade, carrega consigo, a todo instante, seus dois filhos: Rihanna e João Victor, interpretados por Rihanna Barbosa e Benin Ayo (a quem grande liberdade criativa foi oferecida durante as gravações, e cuja participação mostra-se dotada de qualidade e sentido).

Foto: Divulgação
Fugindo do ex-marido, cuja presença ao longo de quase todo o filme é marcada por uma angustiante ausência que preenche em absoluto cada um dos espaços, Gal é a figura nuclear de uma batalha que é física, política e discursiva. Suas principais ferramentas de luta são as transformações de sentido que ela é capaz de operar junto aos filhos, como um modo de preservar-lhes ainda uma outra sina de existir: aqui, dormir na rua — no império dos renegados, do abandono e da completa falta de alternativas — pode virar um grande acampamento; e catar latinhas vermelhas pode virar um jogo que contabiliza dez pontos ao vencedor. Um mecanismo semelhante àquele adotado por Guido com seu filho Giousé em A vida é bela, filme italiano vencedor do Oscar em 1999, como bem notaram algumas análises divulgadas no mesmo dia da estreia oficial1. Tanto no enredo de Roberto Benigni e Vicenzo Cerami quanto no de Anna Muylaert, o procedimento criativo é, de fato, semelhante: trata-se de esconder das crianças a existência feroz de uma guerra. Mantida de certo modo a violência, o que se altera num contexto e noutro são as especificidades do que se prolonga e do que se extermina, a nível físico, político e discursivo.
Um dia após o lançamento da obra, Flavia Guerra publicou na UOL uma crítica que dá o que pensar: “‘A melhor mãe do mundo’ rompe ciclo de violência com força e afeto”. Na perspectiva da autora, ao realizar a denúncia contra seu agressor, Gal teria aberto a possibilidade de outro futuro aos seus filhos. O argumento é, em partes, verdadeiro, e também aparece já no título da resenha de Raquel Aquino, publicada no jornal O Povo. Mas há também outro elemento do roteiro que chama a atenção dos espectadores. As línguas mostradas pelas crianças em várias das cenas, em meio às brigas e incessantes discordâncias de toda ordem, intercalando tapas, xingamentos e empurrões, deixam no ar uma pergunta: seria a violência também uma herança familiar? De quantas e quais formas um trauma silencioso pode circular e se expandir, por vezes na automatização de padrões comportamentais inconscientes, ao longo de futuras gerações? Não parece acaso que o próprio filho se volte contra a mãe e lhe diga: “Para de fazer drama; se não, o chinelo vai cantar.” Infelizmente, não se rompe tão fácil um ciclo de violência que é sobretudo histórico e estrutural, o que não significa dizer que um primeiro passo não possa ter sido dado em frente às câmeras.
Para além de algumas possíveis incoerências de roteiro, é mesmo um processo difícil tentar responder uma das questões centrais do longa-metragem: “O que você está fazendo na rua com esses meninos?”, indaga Munda, personagem interpretada por Rejane Faria. A partir do jogo de palavras entre Raimunda e mundão, parece a ela parece trazer de volta algo do bom e velho poeta itabirano, que em seu livro de estreia afirmava:
Mundo mundo vasto mundo,
se eu me chamasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma solução.2
O que seria solucionado aqui, afinal? Haveria alguma solução efetiva no horizonte de quem vive a vida imersa nos restos da cidade? Numa tentativa de pensar esses impasses, que são sociais e por isso mesmo estéticos, dois aspectos se enlaçam aqui.

Foto: Divulgação
Na leitura de Sérgio Alpendre, publicada na Folha de São Paulo, um dia antes do lançamento oficial, “não temos tanto a questão da luta de classes” no filme. Sem dúvidas, o argumento gera certa estranheza em qualquer um que se arrisque a uma leitura mais materialista ou minimamente ligada aos processos que estruturam a sociedade brasileira desses últimos anos. Ora, ao adentrar o submundo da exclusão e da desordem capitalista, não estaria a discussão sobre classe posta já de largada em qualquer debate? Ao menos, ela deveria estar. Também nesse sentido, ao afirmar em entrevista que sua obra aponta para um universo feminino que “é [de] pobreza, mas tem vida”, a própria diretora traz à tona lembranças recentes que, embora desconfortantes, permitem encontrar formas de validar a verdade de algumas das premissas estéticas de seu trabalho.
Decerto, o movimento de investigação da vida de quem vive em meio aos resíduos sociais parece muito semelhante àquele que se deu com a história de Carolina Maria de Jesus, também catadora de papel pelas ruas de São Paulo, cuja trajetória de vida se tornou sucesso literário e cinematográfico pelo teor exótico apresentado a países em que o capitalismo já se mostrava em estágio mais avançado. Contudo, ao contrário da intrínseca consciência de classe que atravessa os registros de Carolina como princípio formal e temático de seus textos, a curiosa fala da diretora paulista parece indicar certa falta de vocabulário para nomear e descrever a desigualdade estruturante da sociedade brasileira, que ao mesmo tempo é tateada por seu ímpeto criativo em nome dos mais pobres. Valeria indagar à diretora: acaso seu pressuposto seria não encontrar vida na pobreza? Talvez o olhar automatizado já tenha se acostumado com a resignação esperada e prevista aos corpos negros, jogados na lata de lixo da História, em meio a todos os outros que também desembarcam na última estação de metrô da linha vermelha de São Paulo. Para que seu período fizesse sentido, uma outra estrutura frasal seria necessária: são pobres e têm vida — e têm cultura também, como intui o espectador pelo beat aprendido pelas crianças e pelo funk tocado e dançado no churrasco da casa. Gente que tem poesia também — e uma estranha mania de ter fé na vida, como lembra Milton Nascimento na música final do filme. Talvez o espectador esteja acompanhando de perto o processo político de amadurecimento de uma renomada diretora nacional que, neste ponto de sua trajetória artística, parece enfim descobrir um tanto da vida que existe nos mais pobres, nas mulheres negras e também nas travestis. (Há quem passe toda a vida sem nem isso conseguir enxergar.)
Ignorar o aspecto de classe que pulsa no filme é não se dar conta de uma das frases mais emblemáticas do enredo. Ao ser questionada sobre alguma possível receita para suportar tantas atrocidades cotidianas, a resposta oferecida ao espectador é dolorosamente cruel: “Se eu ganhasse R$ 2.000…” — é o que exclama Valdete, interpretada por Luedji Luna, que afirma ter parado até de comer carne, para ajudar nas economias familiares. Aqui, nesta tentativa inglória de sobreviver em meio ao descarte, é justamente a consciência de classe e da devastação causada pela própria fome que poderia aproximar toda a história de vida de Gal do movimento de vida de Carolina Maria de Jesus; é justamente a falta dessa mesma consciência, nas minúcias formais do trabalho cinematográfico, que faz com que ninguém ainda tenha ousado realizar esta comparação.
Por outro lado, um aspecto tem sido muito pontuado nas leituras críticas do filme: trata-se da opressão de gênero que pode culminar no feminicídio, cujas taxas neste país ainda são mesmo alarmantes. Sem dúvida alguma, o filme é um ótimo ganho nessa grande discussão. Contudo, não parece acaso que os olhares da crítica tratem do tema apenas em abstrato, ligando-o parcialmente à história de vida da própria atriz e da diretora, sem entrarem nas minúcias do que se mostra ao longo das cenas — seja no atravessamento do trabalho doméstico que não cessa, uma vez que também não cessam as pisadas dos homens no chão molhado da cozinha; seja na falta de clareza a respeito das contas e economias da casa, às quais devem ser somados também os remédios e toda a carne do churrasco; seja na cumplicidade masculina que se estabelece a partir da invisibilização do sofrimento das mulheres. A falta de escuta e reconhecimento da voz e da dor da mãe exausta e resistente do centro das cenas parece ser a principal regra contratual de um pacto narcísico invisível que une as diversas facetas de uma conservadora masculinidade, sobretudo cisgênera e heterossexual, e que prolonga a divisão social do trabalho e a exploração das mulheres também no âmbito doméstico.

Foto: Divulgação
Duas figuras masculinas ganham força em cena: de um lado, encontra-se a atuação primorosa de Seu Jorge, no papel de Leandro da Silva; de outro, a figura de Anivaldo, interpretado por Rubens Santos. Se Oeste outra vez, dirigido por Érico Rassi, vencedor do 52º Festival de Gramado, já havia denunciado em tela nacional as dores e não-ditos que compõem a esfera masculina, restando ao sujeito a repetição da violência que é sobretudo um interdito aos seus afetos, as falas de Leandro a Gal retomam a discussão, alçando-a a outros e ainda mais violentos patamares: “Não sei pedir desculpa, ninguém me ensinou” e “Eu sei que você me ama” parecem ser o ponto de partida para a isenção de qualquer afeto e responsabilidade nos homens, guiados pela reprodução de uma desordem social que é, antes de tudo, pautada pelo silenciamento exigido por um certo padrão de masculinidade, o qual se afirma em cena (dentre outras maneiras) a partir da quantidade numerosa de goles e copos de cerveja.
Antes, porém, de destacar qualquer relação entre os homens e o consumo de álcool, seria preciso tornar estranho o que o próprio olhar já parece ter automatizado. Em outras palavras, seria preciso recuperar a verdade que emana da inocência do olhar das crianças que indagam: “O povo bebe tanta cerveja assim?” Talvez um primeiro movimento de compreensão dessa aguda e tóxica masculinidade, representada pelos excessos e pelas faltas, pelo que transborda e pelo que silencia, envolva um questionamento fundamental: para performar o ideal de homem seria necessário, portanto, não estar inteiramente lúcido? Para viver na desordem de resíduos patriarcais é necessário estar sempre aquém de si mesmo? Se as perguntas fizerem algum sentido ao leitor, é provável que aqui se encontre um primeiro modo de olhar algumas das muitas tendências à drogadição, cada vez mais comuns na contemporaneidade: trata-se, enfim, de uma prática que inscreve um ideal impossível de ser alcançado acerca de si mesmo; de uma postura de vida que, na verdade, é retrato de opressão; de uma felicidade momentânea que é sempre apenas a extensão de um sofrimento não-nomeado.
No comportamento de Leandro junto à sua esposa muito se revela ao espectador. O sexo transformado em obrigação e exercício de domínio, por vezes tentado à força, remete a uma experiência dolorosa tornada um tanto familiar ao registro de mundo das mulheres negras, vítimas maiores de nosso passado colonial. Agora, contudo, porque realizado em contexto de aparente liberdade, o ato sexual, ainda carregado de dor e violência (dados inerentes à falta de reconhecimento que impede a concretização de uma experiência amorosa), traz alguma descarga pulsional de satisfação, a serviço do que poderia ser visto como uma pulsão de morte, funcionando não só como sintoma de um passado estendido e de um pacto civilizatório firmado com base na violência, mas também como um dos possíveis retratos geracionais de quem aprendeu, a partir dos silêncios, infelicidades e opressões de toda a vida, que amor se faz brigando e que o prazer leva ao sofrimento, uma vez que a experiência do afeto aparece inteiramente carregada de traumas e violências. O trânsito entre a invisibilidade, a opressão e o puro fetiche de transformar o outro em objeto dá o tom de muitas experiências “amorosas”, sobretudo nos corpos a quem o amor parece interditado.
Nesse sentido, abdicando um tanto da imagem de dona de si mesma e pilar substancial da própria família, frequentemente ressaltada pelas críticas do filme, Gal se torna aos olhos de Leandro escrava do próprio desejo e do desejo do outro, trazendo à tela um imaginário muito maior e mais complexo do que os meros conflitos familiares tão comuns à dramaturgia moderna. Num cruzamento complexo entre desejo, história e política, entrelaçando trajetórias individuais e formações estruturais de todo um país, a mulher que é violada é também a que se maquia à espera do agressor — e também aquela que, mesmo em contextos extremamente desfavoráveis, não abre mão de sua dignidade e afirma em alto e bom tom: “Tu ainda vai ter vergonha”, quase como um eco da voz da sempre inesquecível Elza Soares: “Você vai se arrepender de levantar a mão para mim.” A aproximação entre essas mulheres não é acaso nem pura intertextualidade, mas resultado de um discurso que as atravessa e as une pelo movimento da própria História – um elo que é substancialmente de violação e que, por isso mesmo, as obriga à força cotidiana, em nome da qual se erige a vida e a sustentação do próprio desejo.
Porque o movimento da vida e das lutas sociais é sempre dialético, é claro que há um segundo modelo masculino apresentado em cena. Na contramão da ameaça feita por Leandro, ao insistir que o futuro de Gal guardaria apenas solidão, como uma sina a que estariam condenadas as mulheres pretas, invisibilizadas em seus trabalhos, desejos e afetos, apresentam-se outras duas figuras em cena: de um lado, Seu Antenor, interpretado por Zé Gabriel; de outro, Reginaldo, vivido por Lourenço Mutarelli. Enquanto o primeiro presentifica a necessidade do cuidado inerente a todo sujeito, como condição para a emergência e continuidade de seu existir, o segundo é justamente o que se responsabiliza pela desejada expansão de uma rede fundamental de solidariedade. Distribuindo quentinhas pela cidade, com comida muito boa e temperada, aos olhos das crianças Reginaldo é um anjo, um santo — ou talvez apenas um sujeito no qual ainda impera alguma consciência de classe e um ímpeto de transformação e justiça social, matéria rara no tempo corrente. A partir desses elementos dramatúrgicos, que são também sinalizações acerca do que ainda é possível de ganhar algum sentido e ressignificação, nasce talvez um dos quadros mais potentes de todo o filme.

Foto: Divulgação
Se em Que horas ela volta? (2015) a entrada de Val na piscina de Dona Bárbara parecia se mostrar como utopia e promessa de futuro à classe trabalhadora, em um país de horizontes possíveis, A melhor mãe do mundo apresenta ao espectador o triste resultado do aparente fracasso deste processo: passados os últimos anos de ascensão e governo do que há de mais asqueroso na política nacional, com a retração do imaginário popular e de qualquer política ou pauta progressista, agora, para que possa se molhar, a mãe precisa driblar todos os esquemas de segurança que se encontram a serviço do Capital. O que ela sabe fazer muito bem, diga-se de passagem, com a manha e a sagacidade que só a dura vivência nas classes populares consegue assegurar. A piscina de Val agora se transforma na Fonte dos Desejos, do Vale do Aganhanbaú, em cima da qual está construído nada menos que o Theatro Municipal, um dos principais pontos turísticos da cidade. A dicotomia entre cultura e barbárie, entre alto e baixo, bem como a disputa pela própria existência e ocupação do espaço público, se dá a ver ao espectador, que ri e se satisfaz ao observar as formas inusitadas que as vidas reais, feitas no cotidiano do suor do próprio trabalho, ainda encontram para despistar policiais, sair de supermercados, alimentar os próprios filhos e atravessar toda a cidade, de ponta a ponta.
Além de não se concretizar com facilidade, dado o aprofundamento da estrutura desigual brasileira, a promessa de ascensão de classe, um dia figurada esteticamente por Muylaert, parece agora ameaçada pelo próprio Estado, visto como um mecanismo a serviço da perpetuação infinita dos privilégios do próprio presente. A inteligência das fotografias de Lílis Soares, contudo, revela alternativas e sinaliza resistências: é nas áreas em que o Estado proibiu o descarte de lixo que se encontra o maior número de dejetos; é logo abaixo dos olhos da polícia que a mãe e seus filhos conseguem nadar. A ausência da legitimidade nos mandos do estado de São Paulo aparece nas articulações que as pessoas fazem entre si, a despeito de qualquer ordem, sinalização ou mecanismo de controle, acreditando sobretudo em políticas coletivas de auxílio e solidariedade, e nas possibilidades de existência e resistência que emergem em combate à falta de preparo e inteligência que ocupa os governos deste Estado há anos. O filme novo de Anna Muylaert parece ser uma aposta em outras e novas possibilidades de relação e de sobrevivência dos coletivos, em especial na luta digna por moradia.
Em uma de suas entrevistas, a diretora afirmou que A melhor mãe do mundo seria uma amostra do avesso do capitalismo. Vejamos: pela produção infinda de excedente, a obra é puro retrato do estrago das políticas de acúmulo e desperdício neoliberais, levando a um mesmo posto de resto e abjeção todo um grupo social marcado pela limitação de seu discurso; pela possibilidade coletiva do auxílio, de união aos movimentos populares e da transformação da vida é mesmo um sinal de esperança em um mundo mais igual e solidário. Na mesma coletiva de entrevistas, os atores insistiram em dizer que suas personagens são pessoas quebradas. Entretanto, talvez seja o momento de perceber que a obra revela o completo avesso dessa descrição: trata-se sobretudo de pessoas inteiras, porque todo sujeito é mesmo feito de não-entendimentos e contradições. O que a obra denota e revela, na minuciosidade de seu roteiro e de seus quadros, são as mazelas que podem vir a se concretizar quando a existência dos trabalhadores não encontra suporte em políticas públicas de Estado. Para estes casos, a arma que Leandro possui em sua casa tende a dar o indesejável tom das resoluções de todas as demandas e disputas em que o Estado já não quer intervir nem deseja observar.
Por mais que, com muita razão e propriedade, a equipe do filme insista em dizer que a obra é retrato de uma mulher com uma força absurda, impossibilitada de chorar por falta de tempo e de um espaço propício no qual possam ressoar as demandas inerentes ao seu sofrimento, talvez também nisto ainda resida um elemento a ser superado. Na vida real, mães por vezes não acham mais suas crianças após a fuga de casa — especialmente depois que os padrastos já perceberam algo saliente nas blusas das meninas. No cotidiano paulista, feridas e machucados não se escondem nem cicatrizam com apenas um band-aid. Por isso, talvez seja necessário autorizar, também em cena, descargas de emoções a essas mulheres. É preciso autorizar o sentimento e a expressão dos afetos à classe trabalhadora, para que sua vida não seja apenas trabalho e sintoma, obrigação e sobrevivência silenciosa. É preciso organizar o grito oculto e o ódio por vezes inaudito que fundamentam o modo de existir das mulheres negras, personagens principais de toda a obra, a denunciar que o mito da diversidade e das mesmas oportunidades só existe a partir de três salários mínimos, como bem dizia Edson Cardoso3. Por este motivo, ao espectador cabe também um alerta: o novo filme de Anna Muylaert se passa inteiramente na poética discursiva do olhar de Shirley Cruz. Ali se comunica o maior dos enredos, a maior das dores e das alegrias — e também das revoltas.
Semelhante ao emblemático banho tomado por Fernanda Torres em Ainda estou aqui?, o banho tomado por Shirley no novo longa de Muylaert parece mesmo apontar para a possibilidade de alguma redenção, de dar novo sentido à própria vida e à vida dos filhos. Agora, o FIEL estampado nas camisetas é símbolo de um time e de uma torcida organizada, que fez frente à ditadura civil-militar deste país, mas é também símbolo das lutas inerentes à própria história, às quais o sujeito também deve permanecer minimamente fiel, ao menos até certa ordem, a fim de ver emergir a possibilidade de alguma superação. Por ora, contudo, a cidade atravessada a cavalo e carroça, alegoria emblemática da poesia de Oswald de Andrade4, apenas sinaliza todos os impasses de um país no qual o projeto de modernização traduziu-se como manutenção do atraso das próprias estruturas. Enquanto os sujeitos buscam ferramentas para a superação de velhos dilemas, o país insiste em manter-se fiel às estruturas de um passado escravocrata. O montante de lixo produzido e deixado em suas calçadas tem mesmo sentido e destino estabelecidos.
Em 1977, o escritor alemão Heiner Müller escreveu uma de suas peças mais famosas, Hamlet-máquina. Em um dos solilóquios apresentados em cena, seu novo Hamlet afirma: “A rebelião começa como um passeio. Contra as normas do trânsito no horário de trabalho.”5 De fato, parece ser no ritmo inverso aos carros e à rotina paulista que as transformações se mostram possíveis. Em Gal, que é também a formalização de uma nova versão da figura materna, já tão cara aos trabalhos de Muylaert, o princípio da rebelião se dá pela possibilidade de reinventar a democracia a partir da própria sobrevivência, contra todos que fizeram seus muitos combinados em nome da morte física e simbólica do povo preto6, e também de todas as demandas urgentes do trabalho de cuidado, que exige visibilidade, escuta e organização de suas pautas. É a partir do reconhecimento inicial dos próprios filhos, e também junto a eles, que as aventuras maternas podem ganhar um novo sentido – e é na articulação possível entre classe, gênero, raça e os movimentos sociais que as transformações futuras serão possíveis. Seu rosto será, de fato, mais uma vez, feito do semblante e da vida de uma mulher negra, a verdadeira e melhor mãe do mundo7.
Notas
- Vale a consulta aos textos de Leandro Luz e de Marina Bonini. ↩︎
- ANDRADE, C. D. “Poema de sete faces”. In: Nova reunião: 23 livros de poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 10. ↩︎
- “O Judiciário é intocável, a polícia e os grupos de extermínio idem. A mídia continua branquésima e, maioria dos analfabetos, continuamos vegetando na informalidade e na faixa de até três salários mínimos. Os postos de gasolina exigem segundo grau e referências e nós não terminamos o primeiro grau” CARDOSO, E. L. Memória de Movimento Negro: um testemunho sobre a formação do homem e do ativista contra o racismo. 2014. 307f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 148. ↩︎
- SCHWARZ, R. “A carroça, o bonde e o poeta modernista”. In: Que horas são?: ensaios. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 11-28. ↩︎
- MÜLLER, H. “Hamlet-máquina”. In: Teatro de Heiner Müller. Apresentação de Fernando Peixoto. São Paulo: Editora Hucitec, 1987, p. 29. ↩︎
- “— A gente combinamos de não morrer.
— Deve haver uma maneira de não morrer tão cedo e de viver uma vida menos cruel. Vivo implicando com as novelas de minha mãe. Entretanto, sei que ela separa e separa com violência os dois mundos. Ela sabe que a verdade da telinha é a da ficção. Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Tenho fome, outra fome. Meu leite jorra para o alimento de meu filho e de filhos alheios. Quero contagiar de esperanças outras bocas.” EVARISTO, C. “A gente combinamos de não morrer”. IN: Olhos d’água. Rio de Janeiro: Pallas, Fundação da Biblioteca Nacional, 2016, p. 108-9. ↩︎ - “O que a gente quer dizer é que ela [a figura da mãe-preta] não é esse exemplo extraordinário de amor e dedicação totais como querem os brancos e nem tampouco essa entreguista, essa traidora da raça como quem alguns negros muito apressados em seu julgamento. Ela, simplesmente, é a mãe. É isso mesmo, é a mãe. Porque a branca, na verdade, é a outra. Se assim não é, a gente pergunta: que é que amamenta, que dá banho, que limpa cocô, que põe prá dormir, que acorda de noite prá cuidar, que ensina a falar, que conta história e por aí afora? É a mãe, não é? Pois então. Ela é a mãe nesse barato doido da cultura brasileira. Enquanto mucama, é a mulher; então ‘bá’, é a mãe. A branca, a chamada legítima esposa, é justamente a outra que, por impossível que pareça, só serve prá parir os filhos do senhor. Não exerce a função materna. Esta é efetuada pela negra. Por isso a ‘mãe preta’ é a mãe.” GONZALES, L. “Racismo e sexismo na cultura brasileira”. IN: Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 1984, p. 235. ↩︎
LEITURAS PARA SE APROFUNDAR NO TEMA
Lugar periférico, ideias modernas: aos intelectuais paulistas as batatas (1958-2000), de Fabio Mascaro Querido
Resultado da tese de livre-docência do autor, defendida em dezembro de 2022 na Unicamp, a obra analisa os intelectuais ligados à Universidade de São Paulo dos anos 1960 à década de 1990, revelando como a vertente “marxista acadêmica” exerceu significativa influência nos debates sobre a abertura democrática dos anos 1980 e na vida política brasileira nas décadas seguintes.
O autor examina como alguns personagens representaram simultaneamente o auge e o declínio do pensamento sobre a modernidade no país. Durante os anos 1970, em plena ditadura civil-militar, surgiram análises sofisticadas sobre as particularidades da sociedade brasileira, desafiando o desenvolvimentismo até então hegemônico na esquerda. No entanto, na década seguinte, com raras exceções, como a de Roberto Schwarz, observou-se um distanciamento dessas ideias por parte dos acadêmicos e uma aproximação destes com formulações universalistas, quer seja a visão de mundo neoliberal, que encontrará expressão no PSDB, ou a perspectiva classista, elaborada a partir da experiência do PT. O autor demonstra, assim, como a corrente intelectual da época moldou o pensamento sobre a democracia brasileira após a ditadura, bem como as mudanças e as divisões que ocorreram. Analisa esse importante capítulo da política, capaz de reinterpretar o passado e projetar futuros para o país.



Nós que amávamos tanto O capital, de Emir Sader, João Quartim de Moraes, José Arthur Giannotti e Roberto Schwarz
Relatos marcantes dos pioneiros dos Seminários Marx, que revolucionaram a leitura de Karl Marx no Brasil, revelando como a prática de leitura coletiva moldou a academia e a política. Um documento essencial sobre a história das ideias no país.
Moderno de nascença: figurações críticas do Brasil, organizado por Benjamin Abdala Jr. e Salete de Almeida Cara
Reunião de ensaios que buscam desvendar a formação do ideário nacional. Da simbologia jesuíta ao panorama contemporâneo, autores como Paulo Arantes, Antonio Candido, Roberto Schwarz, Francisco Alambert e Vinicius Dantas revelam as nuances da relação entre escrita e construção da identidade, questionando ilusões nacionalistas e expondo a complexidade cultural do Brasil.
Margem Esquerda #40 | Matéria brasileira
“A matéria nacional é nossa tarefa histórica.” Assim insiste nosso maior crítico literário marxista na entrevista que abre esta edição da Margem esquerda. Aos 84 anos, Roberto Schwarz é categórico: mesmo em um cenário de aguda desagregação social como o nosso – sepultados o desenvolvimentismo ingênuo e os sonhos de socialismo em um só país – a formação do Brasil segue sendo nosso problema fundamental, quase como uma “herança maldita”. Em conversa com Fabio Mascaro Querido, ele discute os rumos da tradição crítica brasileira na atualidade, e fala sobre aspectos pouco conhecidos de sua trajetória. O dossiê de capa aprofunda o mergulho nas contradições da “matéria brasileira” (para usar a expressão consagrada pelo crítico), em um conjunto de ensaios das novas gerações da teoria crítica. Reunido por Tiago Ferro, o quarteto investiga, retrabalha e testa alguns dos insights da obra schwarziana em confronto com a atualidade política do país.
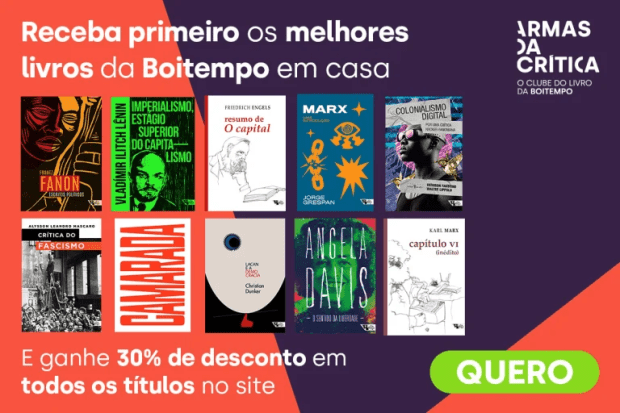
***
Matheus Cosmo é doutorando em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo. Mestre em Artes, também pela USP, possui pós-graduação acerca das relações entre psicanálise e cultura pelo Instituto ESPE. Atualmente, é professor da Rede SENAC em São Paulo.
Descubra mais sobre Blog da Boitempo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.


Deixe um comentário