Diário de um intelectual de Terceiro Mundo: a Revolta do Contestado
Monge João Maria. Foto: Wikimedia Commons
Por Douglas Barros
Pesquei no bar. Foi inevitável. Na quarta noite no Rio de Janeiro minhas pálpebras pesavam toneladas e cheguei à conclusão que se pode morrer de Rio de Janeiro. Aliás, tenho uma hipótese: no Rio a festa não pode parar graças às contradições de classe que são muitas. Vive-se a festa como se estivesse a fugir da dura realidade militarizada, racista, depreciada… a festa é antídoto.
Por falar nisso, a Festa de Aniversário do Marx tinha sido bonita. Era a sua primeira edição no Rio de Janeiro e, por feliz acaso do destino, pude participar. Já era, no entanto, minha quarta atividade em quatro dias: fui à UERJ, depois à UFF, de novo à UERJ e, finalmente, à Festa do Marx. Esgotei. Não consegui sequer ouvir a fala do Zé Paulo Netto e, quando chegou minha vez de falar, à minha exaustão foram acrescidas as luzes do palco, luzes que me fizeram enxergar a plateia como espectro.
Cansado para um caralho, não deixei, porém, de declamar o terceiro solilóquio de Hamlet: ser ou não ser. Sim, Shakespeare inventou um sintoma chamado sujeito. Tentaram fazer de Shakespeare uma cerveja sem álcool, mas se ouvirmos realmente aquilo que ele expressa em suas peças veremos que seu poder de combustão numa alma é altíssimo, como dizia Baldwin: “a sua responsabilidade, que é também o seu júbilo e a sua força e a sua vida, é vencer quaisquer rótulos e intrincar todos os conflitos insistindo no enigma humano”. Mas, ao fazer o solilóquio, me sentia como uma personagem balzaquiana falando de flores a quem só está interessado em concreto. Me senti pedante. Um pouco envergonhado. Uma vergonha que valia a pena. Foda-se.
Meus olhos se tornaram pesados e quando pesquei já estava noutro bar. Cian, Henrique e Natan me censuraram. “Vai nos deixar?”, inquiriam. E, no entanto, eu só pensava nas malas e nas roupas que tinha estendido no varal em meio a um cansaço que me turvava até a audição. Só que ao invés de ir para a casa do Demier, que me acolheu em mais uma estadia no Rio, fui a um último bar a convite dele e do Mendel. Dessa vez o corpo pediu arrego. Cochilei gostoso.
Enquanto cochilava, um único pensamento me dominava: teria que fazer as malas, tentar dormir para no outro dia pegar um avião para São Paulo, refazer malas e, de noite, pegar outro avião, dessa vez para Curitiba. Minha cabeça estava pesada, mas me orgulhava ter feito tantos debates e conversado com tanta gente. Saí do Rio contente numa temperatura de 28°C. Cheguei em Curitiba com 9°C e na manhã seguinte atravessei 6°C.
Curitiba foi só um detalhe. Minha escala era para União da Vitória. Então acordei no Rio, almocei em São Paulo, dormi em Curitiba só para na manhã seguinte viajar mais 270 km de carro. Viajei para uma cidade sobre a qual, até então, nunca tinha ouvido falar — e logo saberia o motivo.
O simpósio
Cheguei em União da Vitória graças a um convite da professora Martha para realizar a conferência de abertura intitulada A filosofia diante da identidade e os problemas do identitarismo no III Simpósio Internacional sobre o Pensamento Latino-Americano. A intervenção faria parte da divulgação do meu livro, O que é identitarismo?.
Antes, entretanto, eu teria que enfrentar a estrada, e um motorista foi enviado pela universidade para me pegar no hotel em Curitiba. Medindo mais ou menos 1,70 de altura, olhos espertos e ar interessado, Claudemir me recebeu dando boas-vindas. Mais do que um motorista, porém, se revelaria uma espécie de Virgilio explicando detalhes daquela terra em que eu poria os pés.
Eu não conhecia nada, absolutamente nada, sobre União da Vitória, mas em pouco menos de uma hora fiquei sabendo que ela estava encravada na região do Contestado. “Contestado?”, pensei comigo, “Significante interessante!”. E de fato era.
Claudemir me explicou que cem anos atrás aquela região assistiu a uma “guerra” iniciada pela ânsia oligarca, pelos interesses de um Estado corrupto e uma transnacional atrás de negócios rentáveis que expulsaria milhares de caboclos de suas terras, dando início à maior guerra civil camponesa do Brasil. Uma luta que foi apagada da história. Logo me dei conta, portanto, de que pisava uma terra cheia de fantasmas, mistérios, crimes de Estado, pobreza, mas muita… muita luta e esperança.
À medida que avançávamos rumo a União da Vitória, Claudemir ia me dando detalhes do levante, do messianismo em torno da figura de São José Maria, das esperanças ainda não apagadas e das veias ainda abertas no Contestado. Surpreso pelo peso histórico diante dos meus olhos, agradeci aos céus por ter tido a oportunidade de conhecer mais um lugar no Brasil e me desprovincianizar de São Paulo e das grandes capitais do sudeste.
Não podemos esquecer que as cidades modernas, construídas como suporte da mercadoria, foram projetadas também como lugares de esquecimento, e é só saindo delas para saber que a argamassa que cobre o tijolo, cobre também a memória. À medida que a estrada era atravessada, mais se desnudava para mim uma realidade histórica invisibilizada pelas mesmas elites de sempre.
Minha hipótese de que a chamada identidade nacional tinha sido construída em cima do sangue de Canudos ganhava novos contornos, agora numa outra luta camponesa e messiânica só que ocorrida no sul do país. Quando finalmente pus os pés em União da Vitória, Claudemir fez questão de que passássemos próximos aos trilhos ferroviários que dividiram Porto União da Vitória em dois municípios — Porto União, pertencente a Santa Catarina, e União da Vitória, no Paraná.
A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) me recebeu de modo tão afável que fiquei desconcertado e, assim, ao chegar para falar de identidade, saí pensando na violência que é constitutiva a qualquer identidade, a qualquer fronteira. Isso ficou evidente, e a história do Contestado me revelaria tudo. Aqueles mesmos trilhos que dividiam a cidade ao meio, que me tinham sido apresentados por Claudemir, também foram os responsáveis pelo genocídio que se abateu sobre os caboclos um século antes. É deles que passo a falar agora, sem me esquecer de dizer que o simpósio estava lotado.
As lutas revolucionárias e messiânicas no Contestado
Numa madrugada friorenta, como muitas daquela região, um jovem ouvira uma voz num sonho dizendo-lhe que o único capaz de curar a ferida que trazia na perna seria um tal de João Maria: um eremita andarilho que se tornara famoso por suas práticas benzedoras. Quando aquele moço o encontrou, o curandeiro, ouvindo suas lamentações, se concentrou no ferimento, pegou um pedaço de cipó chamado “mil homem”, amassou num pouco de água e o atou à ferida borbulhenta, que cicatrizou em poucos dias. O feito foi considerado milagre.
Quem conta essa história é o cronista local Craque Kiko num livro chamado Cães sem dono, uma obra que ilustra como a vida no sertão da região sul também foi atravessada pelos mesmos pálidos tropeços de uma república excludente, racista e fundamentalmente classista. Com o Contestado podemos afirmar que o messianismo foi, nos séculos XIX e XX, uma resposta às promessas infiéis da modernidade e do progresso. Se o futuro era aquele, o passado se afigurava como algo muito melhor para milhões de pessoas destituídas de terras e de direitos.
O santo José Maria pregava contra esse tal progresso. Nos pocinhos de água, reunia sertanejos expulsos de sua terra para dizer que a ganância do homem levaria a muito sofrimento; secas seriam sucedidas por grandes enchentes e a fome tomaria conta das cidades serpenteadas pelo rio Iguaçu.
Atados à sua fala, milagres iam se sucedendo. Numa madrugada desesperançada, o coronel Francisco de Almeida, cansado pela doença incurável de sua esposa, pediu ao monge que rezasse por ela. São José Maria a benzeu e em poucos dias a doença desapareceu. Agradecido de coração, o coronel habituado à lei da troca quis dar terra e ouro ao velho monge, que prontamente recusou a oferta. Mas para entender as profecias e a figura desse velho monge é preciso voltar ainda algumas décadas antes.
Faltavam poucos dias para o golpe da Proclamação da República ocorrer quando o então Imperador, D. Pedro II, deu carta livre à construção de uma estrada de ferro que tinha por objetivo ligar o Rio Grande do Sul a São Paulo. Estávamos em 1889 quando a concessão foi obtida, porém, o primeiro trecho da ferrovia só ficaria pronto 16 anos depois, ligando Itararé a Porto União da Vitória, e o projeto, pela inépcia dos governantes, seria interrompido. E é aqui que a história dessa terra devassada em nome do progresso cruza com a história de São José Maria.
Em 1908, Percival Faquhar, vindo dos EUA, negociou o direito de controle da Companhia Ferroviária conseguindo uma concessão vista hoje como escandalosa: por onde a estrada de ferro passasse, ele tomaria posse de quinze quilômetros à esquerda e quinze à direita dos terrenos. É isso mesmo: 15km de terra para cada lado da linha seriam do americano. Isso desconsiderava totalmente que a área já era povoada pela população cabocla que ali estava havia séculos, e ignorava completamente o impacto ambiental que teria curso. Assim, densas florestas com árvores centenárias se tornariam o palco de uma das maiores guerras civis da América Latina.
Em 1909, após poucos meses de negociação, Farquhar, membro do Brazil Railway Company, fundou a Southern Brazil Lumber Colonization Company — nome sugestivo, a propósito — com o objetivo de explorar as madeiras das árvores numa área imensa cedida pela República. Milhares de centenárias araucárias se viram então na mira da maior serraria da América Latina que usando a colonização de um vastíssimo território exportava madeiras de lei obtendo lucros astronômicos às custas do empobrecimentos do solo e dos habitantes locais.
Quando a madeireira entrou em sua ação predatória, os caboclos, que pouco se preocupavam com títulos de posse, se viram expulsos de maneira violenta das terras que ocupavam há várias gerações. Centenas de mulheres, crianças e idosos, maltratados pelos jagunços contratados pela Lumber, vagaram ao léu até encontrar o pouco refúgio que lhes cabia nas palavras de José Maria. E foi desse modo que o destino daqueles condenados, o anseio por lucro do capital estrangeiro e a modernização predatória do Brazil se encontraram com o monge.
A violência dirigida contra os caboclos engrossava a fileira de fieis no ajuntamento de José Maria. As expulsões organizadas pelas companhias com o aval do governo eram em inúmeros casos mortais. Sabendo da possibilidade de resistência, os jagunços se concentravam no extermínio dos homens por meio de tocaias e invasões surpresa às casas, que tinham como premissa assassinar seu dono. O estupro e as chacinas, durante o período anterior à revolta, eram uma norma.
São José Maria, portanto, pregava a resistência aos desmandos da República, que desrespeitava o povo dando suas terras aos capitalistas estrangeiros que reduziam toda a riqueza natural aos cifrões do lucro. A República era, para ele, “lei do diabo”. E assim, em 1912, já seguido por centenas de desamparados, firmou acampamento num vilarejo chamado Taquaruçu para uma festa religiosa.
Uma festa que não se findou: 300 camponeses, cantando e rezando, decidiram permanecer no local. A notícia se espalhou pelo sertão e aquelas centenas de seguidores se tornaram rapidamente milhares, pois a cada dia novo contingente de desvalidos em torno de José Maria chegava, aumentando também a preocupação das autoridades. Para o prefeito de Curitiba à época, a conspiração estava a caminho e, por isso, transmitiu um telegrama a Florianópolis conclamando as forças policiais à luta contra os “fanáticos que haviam proclamado a monarquia”.
A polícia, no seu trabalho centenário de esbulhar e humilhar os pobres, logo atendeu ao chamado, tentando cercar o local. Alguns camponeses fugiram, enquanto outros seguiram José Maria até a Vila Irani. Ao saber do novo ajuntamento em torno do velho monge, o governo do Paraná enviou outro destacamento com 64 homens para arrastar, amarrados, os “fanáticos” até Curitiba. O que as tropas não esperavam é que dessa vez os caboclos tinham se antecipado e decidido resistir.
José Maria enfatizou que a luta na mata seria mais oportuna aos caboclos, e enviando espias para observar o movimento das tropas do governo orientou que, no clarear do dia 22 de outubro de 1912, fizessem o ataque surpresa. As armas de que dispunham eram facões e porretes, então o ataque seria no corpo a corpo. E, assim, munidos precariamente, os caboclos avançaram sobre as tropas que, surpreendidas se fizeram desarmadas à reação. Aos gritos de guerra, os caboclos desferiram golpes e cutiladas que deixaram no chão 10 soldados da milícia paranaense.
De seu lado, porém, o monge tinha caído morto junto com o capitão do governo e mais 11 caboclos. Os soldados desgovernados e temerosos abandonaram seus fuzis e mosquetes, deixando aos sobreviventes armas suficientes para resistirem a uma nova investida. Ali, porém, na barreira, jazia o corpo de José Maria, que dois meses antes tinha prenunciado sua própria morte e sua posterior ressureição. Os caboclos deram vivas ante o corpo do santo, afinal, tinham escorraçado a polícia da lei do diabo e resistido em nome da Nova Jerusalém: uma comunidade em que “quem tem, mói; quem não tem, mói também; e no fim todos ficam iguais”.
E foi assim que a chamada Guerra do Contestado teve início. Uma história desconhecida à imensa maioria dos brasileiros, marcada pelo sangue da gente cabocla e pela tentativa de defesa da dignidade e de suas terras tomadas pelo capital estrangeiro. Essa história teve um impacto no meu fígado. À medida que ia me aprofundando, tinha o pressentimento de que minha hipótese afinal se confirmava: a identidade brasileira é fundada sob a criação de um inimigo interno, racializado e pobre.
O problema da desigualdade no Brasil incide de maneira radical na monopolização da terra, que organizou oligopólios latifundiários e expropriação predatória do solo. O preço disso será alto se não conseguirmos transformar essa realidade, porque as riquezas naturais são finitas e se finalizam em todo o território. Então, minha hipótese de que o vagido da nação foi organizada pela construção do criminoso fanático, cujos tons de pele não eram os mesmos que os dos colonizadores, estava sendo confirmada.
As lutas camponesas no Contestado duraram quatro anos (1912-1916), outras lideranças populares tomaram o lugar de José Maria, causando prejuízos enormes aos domínios coloniais com a chancela da República. O saldo foi de milhares de mortos — estima-se que entre 10 e 30 mil pessoas tenham morrido durante as lutas —, e o apagamento dessa história marca com chumbo a formação do Brasil moderno.
Eu saí de União da Vitória, depois de ter visitado o sítio do Santo e ter trazido comigo uma pequena imagem dele talhada em madeira. Saí sentindo a importância daquele terreno que durante três dias visitei, e me sentindo profundamente ligado àquela história cabocla. Saí agradecido por ter tido a oportunidade de conhecer mais um lugar de luta e memória.
Agradeço de maneira especial a Martha Coletto Costa e Paulo Borges, que tornaram possível minha ida até a cidade; a Thiago Stadler, que desenvolve um projeto de leitura fanoniana no sistema prisional; a Naiara Krachenski, Daniel Santos da Silva, Giselle Moura Schnorr e Fidelainy Sousa Silva. A formação intelectual nunca é solitária. Muito obrigado!
OUÇA O PODCAST “DIÁRIO DE UM INTELECTUAL DE TERCEIRO MUNDO”
Além da coluna publicada mensalmente no Blog da Boitempo, Douglas Barros acaba de lançar o podcast Diário de um intelectual de Terceiro Mundo. Confira no tocador abaixo o primeiro episódio, “A Guerra do Contestado”, e assine para não perder as próximas entradas.
***
Douglas Rodrigues Barros é psicanalista e doutor em ética e filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Professor na pós-graduação em filosofia da Unifai. Investiga principalmente a filosofia alemã conjuntamente com o pensamento diaspórico de matriz africana e suas principais contribuições teóricas no campo da arte e da política. Escritor com três romances publicados, também é autor dos livros Lugar de negro, lugar de branco? Esboço para uma crítica à metafísica racial (Hedra) e Hegel e o sentido do político (lavrapalavra). Pela Boitempo, publicou O que é identitarismo? (2024), livro finalista do prêmio Jabuti Acadêmico na categoria Psicologia e Psicanálise.
BOITEMPO NO JABUTI ACADÊMICO!
O que é identitarismo?, de Douglas Barros, é um dos cinco finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico 2025, indicado no eixo Psicologia e Psicanálise. Articulando filosofia, teoria social e psicanálise, o livro apresenta uma análise que reconhece a necessidade histórica das lutas rotuladas como identitárias, sem perder de vista as disputas e capturas a que estão sujeitas no atual estágio de acumulação capitalista. Nos termos de Deivison Faustino, “uma valiosa contribuição a um debate novo, que pela primeira vez, encontra uma análise à altura.”
CONHEÇA A OBRA
O que é identitarismo?, de Douglas Barros
Na última década, um termo tem se proliferado de maneira espantosa no discurso político. Moralmente carregado e lançado a torto e a direito em disputas de internet, mesas de bar, espaços acadêmicos e palanques políticos. Mas, afinal, o que é identitarismo?
Emblema maior do desaparecimento da Política (com p maiúsculo), o identitarismo é lido na interpretação original do psicanalista Douglas Barros como um sintoma do século XXI. Implodindo a troca de acusações entre “identitários” e “anti-identitários”, o autor provoca: “o processo de identitarização da diferença se inicia com o colonialismo. É o colonizador europeu o primeiro identitário da história moderna.” Com um olhar da periferia do capitalismo sobre a colonização, Douglas revisita, pelo prisma da identidade, o surgimento e desmonte do sujeito, do Estado e do capitalismo modernos para jogar luz sobre os impasses da política contemporânea, marcada pela proliferação de bolhas identitárias, em que as pessoas se veem obrigadas a desenvolver identidades fragmentadas como resposta, mesmo que inconsciente, à quebra de laços sociais e o endurecimento do neoliberalismo nas relações econômicas.
Descubra mais sobre Blog da Boitempo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.


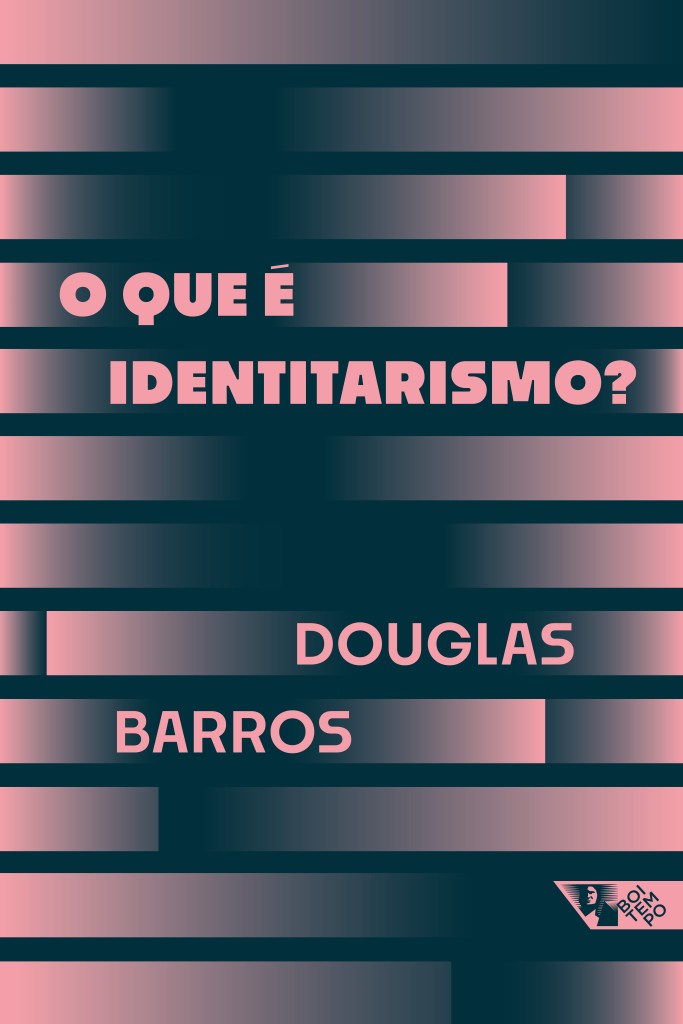
Caramba, vc somente agora, em pleno 2025, descobriu que houve a Guerra do Contestado há mais de 100 anos envolvendo os estados de SC e PR e grupos empresariais da terra?
De fato a história desse país continua apanhando…
LM
CurtirCurtir