Os grevistas de Minneapolis

Imagem: WikiCommons
Por Ruy Braga
A enorme agitação nacional desencadeada após o assassinato de Alex Pretti, um enfermeiro de UTI de 37 anos que trabalhava em um hospital de veteranos, e de Renée Nicole Good, uma mãe, também de 37 anos, ambos cidadãos estadunidenses, por agentes federais de imigração em Minneapolis, acabou por impor uma dolorosa derrota política ao presidente Donald Trump. Em resposta à intensa pressão pública e aos protestos que varreram a cidade e outras partes do país, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, anunciou após uma conversa com a Casa Branca que parte dos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) começaria a deixar a cidade. Além disso, Gregory Bovino, até então responsável pela operação ampliada de imigração na região, foi removido de sua posição e transferido, aguardando aposentadoria fora de Minnesota.
Trata-se de um recuo importante justamente na única frente em que Trump ainda mantinha índices favoráveis nas pesquisas de opinião pública: a política de imigração e de segurança interna. Eleito em 2024 com a promessa de erguer dois muros “inexpugnáveis”, um virtual, sustentado por tarifas comerciais, e outro físico, na fronteira com o México — apresentados como instrumentos de proteção do povo norte-americano contra as supostas ameaças da China e dos países do Sul global —, Trump vê hoje sua estratégia se esgotar. Com a economia em marcha lenta, sua política de intimidação e violência dirigida contra imigrantes passou a produzir custos políticos crescentes, empurrando o governo para uma posição defensiva.
Apesar da brutalidade na ação dos agentes do ICE, vale lembrar que, historicamente, a perseguição, prisão e extradição forçada de imigrantes (legais e ilegais) e suas famílias não é nenhuma novidade nos Estados Unidos, remontando ao século XVIII. O Naturalization Act de 1790, lei que autorizava a naturalização de trabalhadores imigrantes brancos vindos da Europa para apoiar a colonização do país, foi seguido por duas leis restritivas: o Naturalization Act de 1795, que ampliou o tempo de residência exigido para naturalização, e os Alien and Sedition Acts de 1798, que autorizavam o presidente a deportar estrangeiros considerados perigosos.
Já no século XIX, o Act to Encourage Immigration (1864), aprovado durante a Guerra Civil, foi sucedido por leis que restringiram a imigração chinesa, introduziram critérios “morais” e reforçaram a exclusão racializada de trabalhadores; e logo nas primeiras décadas do século XX, o Immigration Act de 1917 e o Emergency Quota Act de 1921 consolidaram o controle estatal sobre a imigração asiática e instituíram cotas para a entrada no país baseadas na origem étnica.
Em 1942, foi instituído o “Programa Bracero”, um regime de trabalho temporário voltado a trabalhadores mexicanos que, ao longo de mais de duas décadas, resultou na assinatura de cerca de 4,5 milhões de contratos. O programa articulava de forma explícita a necessidade econômica do capital estadunidense com a gestão racializada da força de trabalho e o controle político da migração. Ao inaugurar um novo regime racializado de acumulação, o programa submeteu trabalhadores, em sua maioria empregados na construção de ferrovias e nas grandes propriedades agrícolas do Texas e da Califórnia, a condições de superexploração, ao mesmo tempo que lhes negava o direito à organização sindical, à constituição de famílias, à formação de comunidades e à permanência no país. Enquanto importava força de trabalho mexicana de forma legal e seletiva, o Estado criminalizava a imigração indocumentada e reprimia duramente qualquer tentativa de organização coletiva, consolidando uma fronteira porosa para os interesses do capital e rigidamente fechada para a circulação de trabalhadores.
Décadas depois, sob o governo do democrata Bill Clinton, o Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (1996) aprofundou a criminalização da imigração, ampliando de forma significativa as deportações de trabalhadores indocumentados. Em 2001, o Patriot Act expandiu os poderes do Estado em matéria de vigilância, detenção e expulsão, então legitimados pelo discurso antiterrorista. Já em 2017, o primeiro governo Trump fortaleceu o ICE, instituiu ordens executivas para o chamado “banimento muçulmano” e endureceu critérios contra a imigração de trabalhadores considerados “pobres”, em especial oriundos de países africanos publicamente classificados por Trump como “países lixo”.
Ou seja, ao longo da história, tanto governos republicanos quanto democratas administraram a imigração de trabalhadores com base em critérios racializados, orientados sobretudo pelas exigências econômicas de gestão da chamada superpopulação relativa. A violência política exercida na fronteira, longe de ser um desvio, serviu de modo sistemático como um instrumento de regulação do mercado de trabalho, assegurando às empresas um fluxo “adequado” de força de trabalho barata. Dessa forma, a política migratória cumpriu simultaneamente a função de sustentar diferentes regimes de acumulação e de disciplinar o valor dos salários pagos aos trabalhadores “nacionais”.
Se o controle racializado da imigração e as políticas de deportação em massa não são novidade nos Estados Unidos, o que distingue o momento presente? Penso que uma pista importante pode ser encontrada no principal alvo escolhido pelo ICE para vigiar, deter e deportar imigrantes: Minneapolis.
Em primeiro lugar, trata-se de uma conhecida cidade “santuário”, onde trabalhadores imigrantes têm sido historicamente acolhidos e protegidos por redes institucionais e comunitárias. Além disso, Minneapolis possui uma rica tradição de ativismo trabalhista, tendo sido o epicentro de um dos mais importantes ciclos grevistas da história do país.
Como analisado de forma brilhante por Bryan D. Palmer em Revolutionary Teamsters: The Minneapolis Truckers’ Strikes of 1934, as greves dos caminhoneiros de 1934, organizadas por militantes trotskistas da Communist League of America, em especial os irmãos Farrell, Vincent e Carl Skoglund, conseguiram transformar um sindicato frágil, o Local 574 dos Teamsters, em uma força de massa altamente disciplinada, capaz de derrotar o patronato local e enfrentar diretamente a violência política do governo.
O legado dessa vitoriosa agitação trabalhista pode ser aferido nas políticas de bem-estar social praticadas até hoje na cidade de Minneapolis e, de forma mais ampla, em todo o Estado de Minnesota. Nada disso é excepcional quando comparado aos padrões da Europa Ocidental, mas torna-se notável quando tomamos os Estados Unidos como parâmetro. O Estado de bem-estar social de Minnesota tem garantido, ao longo de décadas, educação pública gratuita e de qualidade, políticas de assistência médica e social, proteção trabalhista e uma postura relativamente acolhedora em relação aos imigrantes.
O elevado nível de organização sindical da classe trabalhadora na região também se expressa na persistente hegemonia do populismo trabalhista rural na política estadual. Tanto o governador Tim Walz quanto o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, são filiados ao Partido Democrata Trabalhista Rural (Democratic–Farmer–Labor Party, DFL), a mais longeva e bem-sucedida experiência de “terceiro partido”, isto é, uma alternativa ao tradicional bipartidarismo nos Estados Unidos.
Herdeiro direto do Farmer–Labor Party (FLP), uma organização situada à esquerda da agenda do New Deal, o DFL carrega uma tradição política de defesa de uma redistribuição de riqueza mais radical e igualitária, baseada no fortalecimento das cooperativas, na propriedade pública e na regulação democrática da economia. A centralidade histórica desse “populismo progressista”, conhecido como movimento trabalhista-rural, foi decisiva para a construção, em Minnesota, de um Estado de bem-estar social robusto, ao menos quando comparado aos padrões nacionais.
Por fim, vale recordar que Tim Walz integrou a chapa de Kamala Harris na recente disputa presidencial contra Donald Trump, e que o atual mandatário jamais esqueceu o que considerou a postura complacente das autoridades locais de Minneapolis diante dos protestos que se seguiram ao assassinato de George Floyd, um episódio que teve impacto significativo em sua derrota eleitoral em 2020.
Considerados em conjunto, esses elementos ajudam a explicar por que Minneapolis se configurou como uma espécie de laboratório privilegiado para que Trump teste a nova versão, ainda mais radical, de sua gestão neoliberal e autoritária da superpopulação relativa nos Estados Unidos. É nesse terreno que se tornam visíveis alguns traços do atual regime racializado de acumulação estadunidense que o distinguem de suas configurações anteriores.
O neoliberalismo autoritário e de inclinação fascistóide praticado por Trump, como toda política neoliberal, opera por meio do desmonte sistemático das instituições protetivas do Estado de bem-estar social. Contudo, agora, ele o faz recorrendo de maneira aberta e ostensiva a níveis elevados de violência política, orientados não apenas à punição da população latina, mas também à vingança contra a classe trabalhadora negra, historicamente associada às lutas por direitos civis, proteção social e organização coletiva.
Esse terrorismo de Estado dirigido contra trabalhadores racializados cumpre a função de desencorajar qualquer forma de mobilização trabalhista capaz de elevar os custos sociais da reprodução da força de trabalho nos Estados Unidos. Em termos marxistas, trata-se de manter a força de trabalho racializada reproduzindo-se abaixo de seu valor, de modo a conter o apetite salarial e disciplinar politicamente também os trabalhadores brancos.
Todo regime racializado de acumulação se reproduz por meio da regulação, mais ou menos autoritária, da fronteira entre o trabalho economicamente explorado e aquele politicamente expropriado. O que distingue o momento atual é precisamente o recurso explícito ao terrorismo de Estado exercido por uma milícia política a serviço de Donald Trump, em substituição aos mecanismos institucionais tradicionais (como a produção legislativa ou a emissão de ordens executivas) na gestão da superpopulação excedente de trabalhadores nos Estados Unidos.
Os assassinatos de Renée Nicole Macklin Good e Alex Pretti detonaram uma inesperada greve geral na cidade, além de uma onda nacional de agitações em dezenas de cidades em apoio aos cidadãos de Minneapolis, pressionando e forçando um recuo parcial do governo federal na condução das operações do ICE no Estado. O impacto político dessa onda de protestos na popularidade de Donald Trump já começou a ser avaliado por analistas, com indicadores sugerindo que a crescente insatisfação, inclusive entre eleitores independentes e setores tradicionalmente republicanos, pode ter desdobramentos significativos nas eleições de meio de mandato deste ano. Pesquisas recentes mostram que o apoio às políticas de imigração do governo está em declínio e que mesmo parte do eleitorado do Partido Republicano expressa preocupações com a abordagem federal em Minnesota.
Assim como em 2020, quando as mobilizações iniciadas em Minneapolis e posteriormente irradiadas para outras cidades foram decisivas para moldar o cenário eleitoral nacional, é provável que os protestos desencadeados pelas mortes de Good e Pretti imponham um novo revés político ao autoritarismo fascistóide do movimento MAGA. Caso isso se confirme, tratar-se-á de mais uma evidência de que somente a organização coletiva da classe trabalhadora por meio de sindicatos e de partidos políticos progressistas e revolucionários é capaz de conter o avanço do autoritarismo neoliberal e de suas derivações fascistas. A exemplo do que ocorreu há mais de noventa anos, os grevistas de Minneapolis voltam a indicar o caminho para os trabalhadores na América.
***
Ruy Braga é professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e diretor do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania da USP (Cenedic). É autor de A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista (2012), A rebeldia do precariado: trabalho e neoliberalismo no Sul global (2017) e A angústia do precariado: trabalho e solidariedade no capitalismo racial (2023), todos publicados pela Boitempo.
LEITURAS PARA SE APROFUNDAR NO ASSUNTO

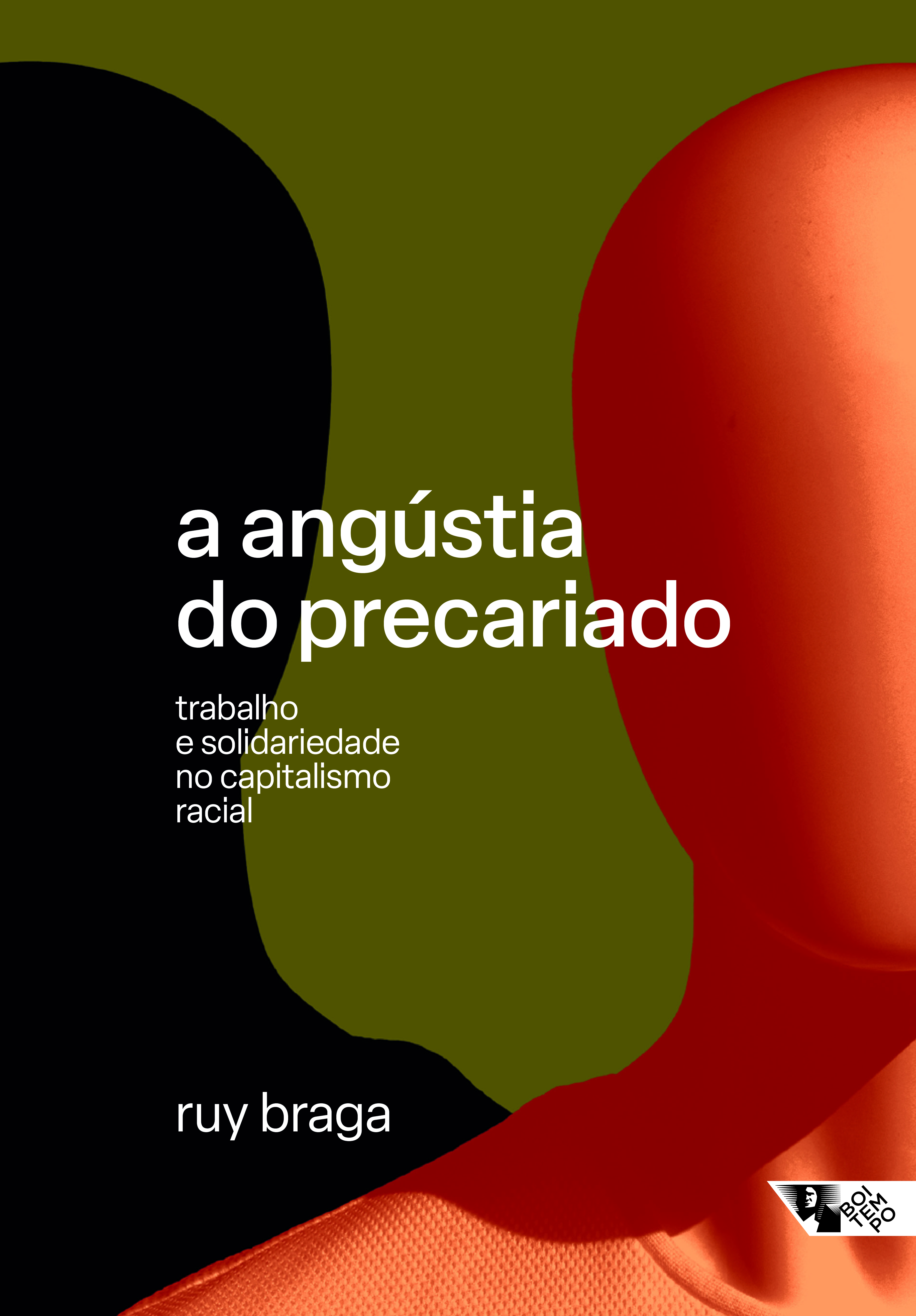
A angústia do precariado: trabalho e solidariedade no capitalismo racial, de Ruy Braga
Como compreender o comportamento político dos trabalhadores racializados nos Estados Unidos? E dos trabalhadores brancos que vivem em pequenas cidades rurais? A eleição de Donald Trump, em 2016, pode ser interpretada apenas como resultado de uma classe trabalhadora branca ressentida e empobrecida? A angústia do precariado, nova obra do sociólogo Ruy Braga, é fruto de uma pesquisa de campo em pequenas cidades rurais nos Montes Apalaches, região que concentra historicamente a pobreza branca nos Estados Unidos. O estudo coloca à prova a hipótese da eleição de Trump partindo de uma problematização teórica inspirada nos marxismos negro e latino-americano.
Capitalismo racial: uma introdução, de Ruy Braga
Por que a compreensão do capitalismo racial é tão urgente para quem deseja transformar o mundo em um lugar mais justo e humano? O novo título da coleção Pontos de Partida traz o tema para o centro de debate. O livro examina o conceito a partir do marxismo negro e analisa três espaços geográficos diferentes: África do Sul, Brasil e Estados Unidos.
O autor, que também coordena a coleção, inicia destacando as teses que identificam o racismo como o principal motor das relações de dominação e exploração ocidentais e capitalistas. A obra segue apresentando e discutindo autores que estudaram a articulação entre acumulação econômica e opressão racial, como Frantz Fanon, Walter Rodney, Cedric J. Robinson, W. E. B. Du Bois, C. L. R. James e outros. A comparação entre os três países no contexto do capitalismo racial é tema da terceira parte e se dá por meio de uma análise comparativa das três diferentes trajetórias históricas nacionais.
“Compreender a articulação entre acumulação econômica e opressão racial é indispensável para a construção de uma autêntica unidade internacionalista da classe trabalhadora. E assumir uma perspectiva comparativa e internacionalista permite iluminar não apenas as formas de dominação, mas também as trajetórias de resistência, solidariedade e articulação política entre as diversas lutas dos povos e grupos sociais racializados ao redor do mundo”, escreve.
“A ascensão de lideranças como Donald Trump revela a atualidade da relação entre racismo e imperialismo. O político republicano, ao buscar elevar o antagonismo racial à condição de principal motor dos conflitos sociais nos Estados Unidos, também usou o racismo como pano de fundo para sua guerra comercial com a China. Infelizmente, essa realidade não é exclusiva dos Estados Unidos. Em diferentes contextos históricos, a ascensão do nacionalismo autoritário e as ameaças à democracia muitas vezes assumem uma forma xenofóbica ou abertamente racista.
Ideologicamente, a opressão racial no Brasil foi associada à suposta incapacidade da massa negra em se integrar ao modo de vida moderno. Daí chegou-se à naturalização da condição marginal do negro e à necessidade de submeter suas comunidades ao assédio policial constante. Ainda hoje, cobra-se ao trabalhador negro um comportamento submisso, equivalente àquele que o senhor exigia do escravizado. Afinal, a morte do trabalhador negro continua dependendo da decisão autocrática do braço armado do Estado. Diante de tamanha opressão, quais seriam as principais características da resistência negra no país?”
— Ruy Braga
Descubra mais sobre Blog da Boitempo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

Deixe um comentário