Maternidade virou “coisa de rico”
Como saímos do estereótipo de prole numerosa das classes populares para um símbolo de distinção dos ultrarricos? E o que isso tem a ver com domesticação feminina.

“Duas Famílias”, Mihály von Munkácsy (c. 1900). Imagem: Wikimedia Commons
Por Ana Clara Ferrari
Ter muitos filhos virou sinal de status social para os ultrarricos em 2025. Entre o 1% mais privilegiado do mundo, ostentar mais de quatro filhos tornou-se um símbolo de distinção de classe. Elon Musk é o representante mais famoso desse esforço público em exibir suas crias.
Agora, uma pessoa desavisada no Brasil pode até estar confusa. Historicamente, aqui na terra dos trópicos, uma prole numerosa sempre foi atribuída, de forma estereotipada, às classes de baixa renda. As críticas mais ferozes contra programas de transferência de renda acusavam a possibilidade de as famílias terem “mais filho só pra ganhar mais benefício”; e o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a defender esterilização de pobres. Debates públicos sobre enfrentamento às desigualdades sociais se debruçaram sobre quantidade de filhos e estruturas de sobrevivência. O que mudou?
É possível responder parte dessa questão a partir da obra do antropólogo Michel Alcoforado, Coisa de rico: a vida dos endinheirados brasileiros, livro que traça uma verdadeira radiografia da distinção social do Brasil contemporâneo. Dentre os esforços feitos pelos ricos brasileiros para se distinguirem do restante da sociedade, afirma o autor, o sucesso e o desempenho dos filhos estão entre as principais estratégias para se afirmar como rico no Brasil. A escola onde estudam, os espaços que frequentam, os locais onde passam férias, os bens de consumo que utilizam, o desempenho acadêmico, dentre outros são indicativos de espaços que ocupam (e do acesso que têm), diferenciando a elite da ralé. No entanto, o cerne da questão está justamente no fato de os filhos representarem o tamanho da transferência da riqueza, gerando o ícone imagético do privilégio elitista: nascer herdeiro.
Essa dinâmica — que constitui o pilar da família patriarcal e criou as bases para consolidar o capitalismo e patriarcado moderno, muito explorado por Engels em A origem da família, da propriedade privada e do Estado —, ganha seus contornos contemporâneos e tropicais a partir do jogo de espelhos da diferenciação de classe apontado por Alcoforado. Ou seja, ser rico no Brasil é sobretudo um esforço permanente em não parecer pobre ou classe média. Porque, no jogo social, parecer e ser são equivalentes morais.
Somos uma nação fundada no colonialismo e no racismo, portanto, a nossa história de geração de símbolos culturais e de produção de ideais da classe dominante, sobretudo de distinção social, vai acompanhar pari passu esses valores. Assim, se historicamente, uma prole numerosa era atribuída às classes mais baixas por diversas razões — tais como a falta de acesso a informação, métodos contraceptivos e educação sexual, ou se devido à alta mortalidade infantil era preciso ter muitos para que apenas alguns “vingassem”, e até em razão da precariedade na busca por sobrevivência (criança era uma força de trabalho barata) —, o modelo familiar ideal da elite dominante, obviamente, iria se estruturar na contramão desse processo, para não serem “confundidos”. É neste solo patriarcal, racista e colonialista que atravessamos o século XX, por exemplo, combatendo arduamente discursos nefastos que culpabilizavam a alta quantidade de filhos das famílias pobres pela miséria do país, derivando em ataques centrais a políticas de transferência de renda e de justiça social. No campo superestrutural, a lógica se repetiu ao longo dos séculos. Em novelas, filmes, programas de TV, famílias grandes eram retratadas como símbolos das classes de baixa renda, moradores de periferias e outros estereótipos classistas.
No meio do caminho, a classe média brasileira, tendo como sua principal expressão a pequena burguesia, também participa do jogo dos espelhos — e quer se diferenciar. Portanto, ela historicamente abraça o modelo da elite dominante para se sentir pertencente ao mundo dos ricos e, então, abrir um caminho de acesso a ele, mesmo que nunca, de fato, chegue lá. Uma vez atingido o objetivo, ou seja, quando as classes médias e, consequentemente, as populares conseguem acessar as “coisas de rico” (ideias, modelos, padrões, comportamento), contraditoriamente, o valor simbólico de diferenciação desaparece. E então outras coisas de rico são inventadas para que os muros sociais permaneçam de pé.
Essa dinâmica, invariavelmente, serve para tudo que produz distinção de classe no país. Do Labubu à bolsa Birkin, da estética clean-girl ao maximalismo, do Chandon ao rótulo exclusivo do pico da Macedônia, da prole numerosa à família que cabe no apartamento financiado da MRV. Como Michel Alcoforado afirma, ser rico no Brasil não é só “ter dinheiro”, porque envolve uma série de outros códigos de pertencimento. No entanto, todos esses outros códigos também prescindem de acesso a várias formas de capital, sejam eles simbólicos, políticos ou culturais.
Ao atravessarmos um longo período de crise econômica e política, o aprofundamento do neoliberalismo, o esgarçamento das relações trabalhistas, a precarização da vida, as peças do tabuleiro da distinção social se reposicionam de modo a corresponder a essa nova estruturação material e concreta da realidade. Em termos superestruturais, famílias de classe média não têm mais poucos filhos para se “diferenciarem” das classes mais baixas; elas possuem poucos filhos porque o custo de se criar uma pessoa com as marcas de distinção social (escola privada, aulas de línguas, acesso a esportes etc.) aumentou consideravelmente e a composição da renda não o acompanhou na mesma velocidade, tampouco há estabilidade financeira. Famílias de classes sociais menos favorecidas seguiram o mesmo comportamento e chegamos aos resultados do último censo do IBGE: Em 2023, o país viu o número de nascimentos cair pelo quinto ano seguido. Foram 2,52 milhões de nascidos, a menor taxa de nascimentos desde 1976.
Se a família pequena se “popularizou”, o caminho a ser traçado pela elite dominante já é óbvio. E esse fenômeno não é apenas brasileiro, visto que estamos diante de uma crise global do capitalismo e de uma queda generalizada das taxas de natalidade, que já está sendo chamada de “crise da fertilidade”. Um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) afirma que o declínio das taxas de natalidade alterará permanentemente a composição demográfica das maiores economias do mundo ao longo da próxima década.
Até aqui, podemos dizer que traçamos um breve panorama da mudança de paradigma da composição familiar na sociedade brasileira com seriedade. Mas peço licença para fazer uma ligeira provocação. Não parece, como diziam nossas avós, que esses filhos — sejam poucos, sejam muitos — são todos “filhos de chocadeira”? Brotaram da terra ou caíram do céu?
Estruturei o texto dessa forma, trazendo primeiro o ponto sobre distinção social (que considero importante para a reflexão sobre as mudanças de comportamento e padrão de composição familiar, embora explique apenas parcialmente suas razões), porque permite mostrar que é perfeitamente possível falar sobre um fenômeno intrinsecamente relacionado à maternidade sem nem sequer mencionar as mães, o que acontece bastante em nosso meio — e aconteceu ao longo da história das mulheres.
E não fiz isso por mero acaso ou recurso estilístico, mas porque vamos agora entender como é possível que abordar o tema sem falar das mães possa não apenas ser considerado razoável em alguns espaços, como também historicamente o patriarcado modelou, decidiu e impôs esses padrões de composição familiar e de maternidade de forma totalmente arbitrária e impositiva sobre as mulheres — como se elas fossem apenas quem gesta e vai parir, mas não quem decide.
Família grande ou pequena: quem decide e quem pare? Um pouco de história
O ditado popular nos conduz a pensar que, se vamos decidir sobre número de filhos, primeiro precisamos combinar com as russas (no caso, as mães). Porém, veremos que, historicamente, o movimento é reverso. A partir da necessidade de uma organização social que sustente a emergência e a permanência do capitalismo, o Estado e a Igreja entram em consonância para estabelecer um modelo de família patriarcal a despeito de qualquer traço de autonomia das mulheres. Se as necessidades do capital mudam, as formas de organização social para sustentá-lo também mudam e às mulheres cabe apenas seguir as novas regras.
Elisabeth Badinter, na obra Um amor conquistado: o mito do amor materno, traça um panorama da construção do mito do “amor materno” entre os séculos XVII e XX, ou seja, busca desconstruir a falácia do “instinto natural” da maternidade. Mesmo com problemáticas e anacronismos, Badinter torna-se uma autora fundamental dos anos 1980 ao explicitar que não existe “instinto materno”. Esse ideal, na verdade, é uma construção social que corresponde a uma necessidade de (re)organização social de um determinado período.
Badinter destrincha em detalhes o caminho da sociedade francesa, desde quando terceirizar a amamentação e os cuidados da criança era traço de distinção social (não amamentar era “coisa de rico”), e mesmo recomendado por “especialistas”; passando pela forma como esse modelo é absorvido pelas classes burguesas e populares; até o momento em que esse ideal é transformado, principalmente a partir do século XVIII, e se passa a enaltecer e valorizar a amamentação, enquanto se ergue o modelo mais conhecido por nós de maternidade: pura, casta, santa, domesticada, devota e submissa.
Em resumo, até o século XVII, tornou-se comum, em todas as classes sociais francesas, que as mães enviassem bebês para as casas de amas de leite (mulheres geralmente mais pobres e precarizadas) onde as crianças ficavam permanentemente até três ou quatro anos de idade — as condições de higiene eram tão precárias que a mortalidade infantil atingia índices alarmantes de 60 a 70%. As mulheres pariam muito, mas também morriam muitas crianças, seja por condições de parto, seja por condições de higiene nas casas de amas.
O fato é que a figura da mãe terna, acalentando seu bebê, sentada em uma poltrona e dedicada totalmente a ele nos primeiros anos de vida não existia — nem no topo, nem na base da sociedade, segundo Badinter. Nesse período, não havia o conceito de infância, tal como concebemos hoje: o medo das crianças era predominante, elas eram vistas como “símbolo do mal, um ser imperfeito esmagado pelo peso do pecado original” afirma a autora parafraseando Santo Agostinho. Castigos infligidos, violência e indiferença eram pedagogias recorrentemente recomendadas em documentos oficiais da época, inclusive como comportamento “ideal” das mães.
O mais interessante é que a autora aborda diversas perspectivas, debruça-se sobre diversos discursos, mas a mudança concreta e significativa no ideal de maternidade — definindo-a tal qual a conhecemos hoje —, e consequentemente sua imposição enquanto modelo ideal para todas as mulheres, está diretamente relacionada à necessidade de força de trabalho para a revolução industrial. Na obra de Badinter, porém, isso aparece na transformação do protagonismo da criança e no surgimento do conceito de infância. Ao mesmo tempo que a criança começa a ser vista como um “sujeito político e de direitos”, impulsionado pela iminência de uma crise demográfica, da necessidade de combater a mortalidade infantil e garantir mão de obra para fazer a máquina capitalista rodar, o modelo de família e, consequentemente, de maternidade transforma-se radicalmente — passando longe, obviamente, de qualquer decisão por parte das mulheres sobre a quantidade de filhos, tampouco de como, quando e de que forma irão educá-los.
O curioso é que, enquanto esse período significou um avanço sem precedentes relacionado aos direitos das crianças, por exemplo, não representou efetivamente o mesmo avanço no direito das mulheres, embora o foco do enaltecimento da esposa-mãe esteja se estabelecendo no núcleo familiar. Pelo contrário, Badinter reforça a resistência das mulheres em se adaptarem a esse novo modelo, e o modo como os filósofos, escritores e formadores de opinião pública do século XVIII tiveram que investir em variados modelos argumentativos e repressivos para a nova configuração patriarcal, fundamentando-se em valores como a busca da felicidade e valorização do amor.
“De Montaigne a Rousseau, passando por Molière e Fénelon, conjuram-nas a voltar às suas funções naturais de dona-de-casa e de mãe. O saber, dizem eles, estraga a mulher, distraindo-a de seus deveres mais sagrados.”
— Elisabeth Badinter
A partir do século XVIII, com a criação do modelo ideal de esposa-mãe, as tarefas relacionadas à maternidade tornam-se cumulativas, não basta mais “manter a criança viva” — a carga emocional, a responsabilidade moral, a educação das filhas dentro do novo modelo de dominação, a dedicação integral desde o nascimento, a culpabilização, a limitação de acesso ao conhecimento e outros diversos mecanismos de controle dos corpos e mentes das mulheres tornaram-se ainda mais sofisticados, requintados e cruéis para moldar esse novo “ideal de maternidade”, confinada, solitária, devotada, santa e isolada no âmbito doméstico.
Pela primeira vez na história da França, quem deu as cartas sobre o modelo ideal de organização social não foi a aristocracia, mas a nova classe emergente: a burguesia. E foi assim, com ares iluministas e borrifadas de perfume de progresso, que homens em espaços de poder, respondendo às necessidades do capital, do Estado e da Igreja, decidiram de fato sobre como, quando e quantas vezes as mães deveriam parir; como, quando e de que forma deveriam criar e educar; e como, quando, e de que forma deveriam se portar.
Se tudo isso acontecia no coração de uma sociedade branca, como a francesa, e se espraiava por toda Europa ocidental, como foi que esse modelo atravessou o Atlântico e se impôs a uma sociedade completamente diversa, colonizada, racista e violenta, cuja organização social ainda amadurecia, como o Brasil?
Os três primeiros séculos de colonização brasileira foram marcados por fluxos e refluxos humanos, sobretudo de homens para a ocupação continental e exploração das terras. Dessa forma, as mulheres eram costumeiramente abandonadas ou deixadas a sós com filhos legítimos e ilegítimos. Para sobreviver, elas passavam a chefiar seus lares, com as crianças circulando entre outras casas e sendo criadas por comadres, vizinhas e familiares — criando um sistema forte de gestão de lar matrifocal, como explica Mary Del Priore no livro Ao sul do corpo. Em suma, o exercício da maternidade no período colonial se concretizava na prática de mulheres e crianças unirem-se por melhores condições materiais de vida.
Filhos e netos bastardos e ilegítimos eram abraçados pelas mulheres, incentivadas inclusive pela própria Igreja, e criavam um complexo universo de relações sentimentais e de proteção mútua. Ainda assim, preconceitos sociais e raciais traçavam a geografia de limites entre maternidades. Priore destaca, por exemplo, que embora a prática de “reconhecer bastardos” seja bastante documentada na história brasileira, esta não era a realidade dos filhos de mães escravizadas. Consideradas como “amantes passageiras”, elas não tiveram seus nomes registrados na história, tampouco seus filhos, o que não permite saber se foram recompensados ou apenas concebidos sob coerção e violência.
A existência do lar matrifocal era uma questão de sobrevivência não só para as mães negras, pardas, pobres, indígenas, forras, concubinas, amantes e toda sorte de combinações das camadas subalternas, mas também para as crianças e comunidade extensiva (o que hoje também chamamos de “redes de apoio”). Desse modo, “as formas não sacramentadas de convívio conjugal não eram absolutamente empecilho para que as mulheres seguissem tendo filhos e tentassem criá-los”, reforça Priore.
Sendo assim, o modelo de “família brasileira” ao longo de nossa colonização, até meados do século XVIII, foi marcado por esse amálgama de filhos e netos, legítimos e bastardos, criados por mães abandonadas por genitores, amigas, vizinhas e familiares. Embora para a parca elite dominante que habitava o Brasil as regras de ideal de maternidade europeia, conforme vimos em Badinter, predominassem, esse modelo não tinha forças para se impor sobre a dura e cruel realidade das mães brasileiras no período colonial.
Novamente, quem vai buscar “resolver” essa situação é a Igreja, para responder a um projeto de Estado que iniciava seu processo de modernização e implementação do sistema capitalista em solo brasileiro. Para isso, era necessário, em primeiro lugar, “domesticar as mulheres”, ou seja, interditar o mínimo de autonomia conquistada a duras penas como gestora de seus próprios lares e o espírito de comunidade e solidariedade. A Igreja então inicia um processo de domesticação por meio de uma intensa investida ideológica na imposição e na interiorização do matrimônio, a partir do desbastamento da identidade feminina. “Ser mãe”, portanto, não era criar seus filhos e gerir seus lares, “ser mãe”, passou a significar “ser casada”, “ser boa esposa”, “humilde, obediente e devotada”. Não bastava ser, era preciso parecer, portar-se e comportar-se conforme a figura da santa mãezinha.
“O esforço de adestramento dos afetos, dos amores e da sexualidade feminina afinava-se com os objetivos do Estado moderno e da Igreja […] A fabricação do amor conjugal e do adestramento feminino espelhavam ações no sentido de impor uma divisão sexual de papéis, reflexo de uma nova ideologia e cosmologia social na época moderna.”
— Mary Del Priore
Portanto, a imposição do matrimônio como única régua moral para definir o conceito de “mãe ideal” na sociedade brasileira, que se baseava no aprofundamento do controle da sexualidade feminina, foi o solo patriarcal sedimentado repressivamente pela Igreja para traçar as novas ordens de organização social. Quanto às mães negras e escravizadas, nem sequer havia essa preocupação. Elas eram vistas como (re)produtoras, e seus filhos, como investimentos a longo prazo.
“A maternidade de escravas acentuava o caráter de exploração física que sofreram tais mulheres. Seu sexo era utilizado para o desfrute e o prazer, mas também para a reprodução, pois os filhos de escravas não deixavam de significar um investimento para os seus senhores.”
— Mary Del Priore
Em suma, segundo a autora, estudar a história da maternidade no Brasil Colônia significa perceber que o fenômeno biológico da maternidade, sua função social e psicoafetiva, vai se transformar, ao longo desse período, num projeto de Estado moderno — sobretudo racista — e, principalmente, da Igreja para disciplinar mulheres da colônia.
Os ventos do futuro vieram do passado
Neste breve passeio pelos últimos quatro séculos, pudemos perceber que as “tendências” de configuração familiar passam pelo estabelecimento do “ideal de maternidade”, que corresponde às necessidades de organização social para manter o capitalismo e o patriarcado.
A nova trend de famílias numerosas, ultrarricas, e a propagação da ideologia das tradwives (esposas-mães submissas) são parte da estratégia da elite dominante para consolidar um novo modelo de organização social para os “novos tempos” ultraliberais, de aprofundamento das desigualdades e do colapso civilizatório, usando modelos e estruturas repressivas de controle das mulheres empoeirados e cheirando a naftalina. Com as novas tecnologias reprodutivas, o cenário tende a ser ainda mais perverso, explorando e retirando das mulheres seus recursos reprodutivos, enquanto o restante de seus corpos poderá ser absolutamente descartado — tendo como principal alvo mulheres pobres, marginalizadas e racializadas.
Se isso te soa medieval, recordo que, em 2019, o então presidente da Câmara da Flórida, o republicano José Oliva, usou o termo “host bodies” (corpos hospedeiros) ao se referir às mulheres. Neste ano, o bilionário Elon Musk foi acusado pela filha de usar técnicas para “escolher” o sexo de seus filhos durante o processo de fertilização in vitro. Um bilionário britânico gastou 50 mil dólares para garantir óvulos de uma modelo escolhida durante um desfile nos Estados Unidos, para “não ter filhos feios”. O bilionário fundador do Telegram afirmou que quer ter “centenas de filhos”, e está se oferecendo para pagar pelo processo de fertilização in vitro de mulheres com menos de 38 anos que estejam interessadas em ter um bebê usando seu sêmen em uma clínica de fertilidade em Moscou. Em todos esses casos, as mulheres são meros detalhes, apenas acasos de corpos reprodutivos que o desenvolvimento tecnológico ainda não deu conta de substituir totalmente — mas eles seguem tentando.
Por fim, organizar a resistência em torno deste tema exige um aprofundamento e uma atualização do conceito de maternidade nos marcos do feminismo socialista, de modo a engendrar um esforço coletivo de construir um novo conceito de maternidade emancipatório, que corresponda à construção de uma outra sociedade, e que torne essa condição não apenas um instrumento de dominação nas mãos do patriarcado a serviço do capitalismo, mas uma ferramenta de organização, luta e emancipação de todas as mulheres.
Referências
ALCOFORADO, Michel. Coisa de rico: a vida dos endinheirados brasileiros. São Paulo: Todavia, 2025.
BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
DEL PRIORE, Mary. Ao sul do corpo: condição feminina, maternidade e mentalidades no Brasil Colônia. São Paulo: Editora UNESP, 2009.
ENGELS, F. A origem da família da propriedade privada e do Estado. São Paulo: Boitempo, 2019.
FERRARI, Ana Clara. A maternidade na centralidade da agenda política brasileira. Fundação Perseu Abramo, 27 de agosto de 2025.
***
Ana Clara Ferrari é jornalista e especialista em políticas públicas para igualdade de gênero. Pós-graduada em Gestão Pública, foi relatora do GT de Transição (2022) da pasta de Mulheres; e Coordenadora-Geral de Autonomia Econômica e Combate à Fome e à Pobreza, no Ministério das Mulheres. Trabalhou na Prefeitura de São Paulo de 2013 a 2020, nas Secretarias de Comunicação, Relações Internacionais, Saúde e Inovação e Tecnologia, coordenando projetos de comunicação e inovação em todas as áreas. É autora do livro Querido Diário da República, lançado em 2019. E atualmente é coordenadora de formação política para mulheres da Fundação Perseu Abramo.
LEITURAS PARA SE APROFUNDAR NO TEMA
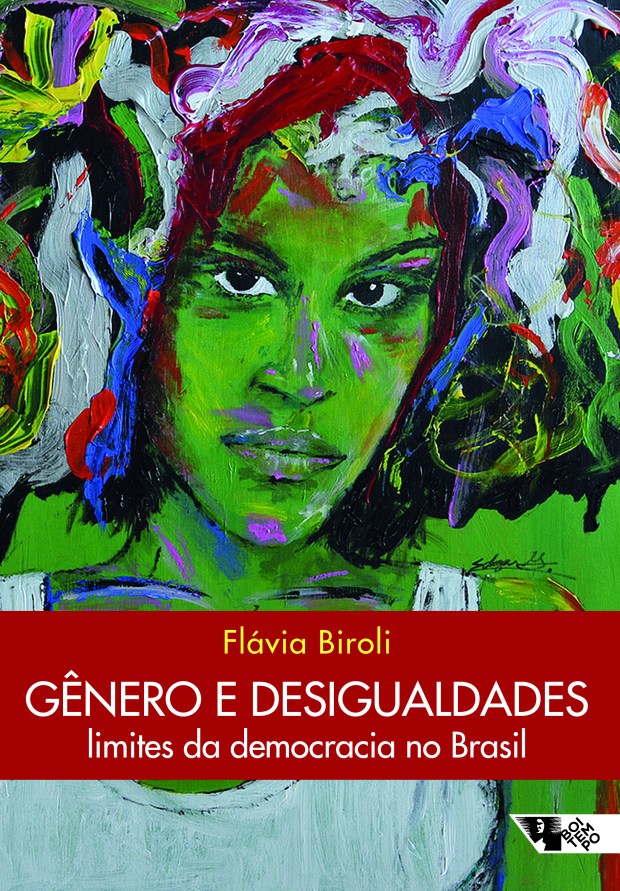


Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil, de Flávia Biroli
Situada no contexto brasileiro, a obra ilumina as discussões sobre desigualdade entre homens e mulheres com o objetivo de compreender os impasses que se apresentam na construção de relações de gênero mais justas. Para responder a esse desafio, a autora examina temas fundamentais dos direitos das mulheres, do feminismo e da democracia brasileira.
Gênero, neoconservadorismo e democracia: disputas e retrocessos na América Latina, de Flávia Biroli, Maria das Dores Campos Machado e Juan Marco Vaggione
Fruto de uma investigação transnacional realizada no decorrer de 2018 e 2019 e de um profícuo diálogo envolvendo as duas autoras e o autor, esta obra analisa as relações entre gênero, religião, direitos e democracia na América Latina. Com o fim da chamada “onda vermelha” na região, é significativo o aumento da atuação de católicos e evangélicos conservadores na política, com forte reação às políticas de equidade de gênero, direitos LGBTQIA+ e saúde reprodutiva.
Feminismo e política: uma introdução, de Flávia Biroli e Luis Felipe Miguel
A obra discute as principais contribuições da teoria política feminista produzida a partir dos anos 1980 e apresenta os termos em que os debates se colocam dentro do próprio feminismo, mapeando as posições de diferentes autoras e correntes. O resultado é um panorama inédito do feminismo atual, escrito de maneira a introduzir os leitores pouco familiarizados nas discussões, sem por isso reduzir sua complexidade.
Descubra mais sobre Blog da Boitempo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

Deixe um comentário