Bad Bunny como sinthoma, Rosalía como mal-estar: a música como laboratório psíquico da colonialidade contemporânea

Rosalía e Bad Bunny no videoclipe de “La Noche De Anoche”. Imagem: Divulgação.
Por Juan David Almeyda Sarmiento
Mark Fisher, na introdução a Jacksonismo — livro que ele mesmo editou —, comenta que a obra buscava prestar uma homenagem a Michael Jackson de modo que não fosse uma simples biografia laudatória, mas sim uma análise do artista como aquilo que ele foi: um sintoma que deveria ser considerado parte de uma era que ele próprio ajudou a construir. Assim, o rei do pop é abordado por meio de uma leitura que entrelaça estética, política e crítica social para revelar as camadas por trás das obras artísticas que se encontram sob o grande holofote da mídia.
É esse mesmo espírito que desejo trazer para o exercício que segue. Não se trata apenas de compreender os artistas midiáticos como produtos de uma indústria cultural capitalista que surgem ex nihilo para serem consumidos dentro das identidades precárias da hipermodernidade, mas de analisar como tais obras artísticas respondem a um contexto que as atravessa e as posiciona como objetos de análise para compreender o substrato cultural, político, econômico, ético e social no qual essa arte é cultivada. Desse modo, surge aqui a necessidade de recorrer a dois objetos artísticos próprios da contemporaneidade: Bad Bunny e Rosalía.
Os dois artistas reuniram méritos e conquistas que os posicionaram como tendência mundial e, ao mesmo tempo, tornaram seus álbuns extremamente atrativos para o grande público (que os ingressos de seus shows se esgotem e sejam reconhecidos por múltiplas premiações deixam isso claro). Por isso mesmo, torna-se importante observar aquilo que se faz presente em sua arte na medida em que ela se insere no presente, o que permite afirmar que é composta por uma rede de fenômenos da atualidade.
O que desejo destacar é uma ideia que se torna manifesta quando se considera a conjuntura atual do mundo — isto é, aquela em que se vive um novo impulso imperialista por parte dos Estados Unidos em crise e, simultaneamente, se experimenta um aumento da xenofobia na Europa, produto de uma nova ascensão das direitas, o que dá lugar a uma crise colonial praticamente em escala global.
Desse modo, o que pretendo tomar são dois álbuns: Debí tirar más fotos (DtMF), de Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio), e LUX, de Rosalía. Juntos, eles representam — percebam isso ou não — faces diferentes de um mesmo problema: o que fazer com aqueles que são sinalizados como não pertencentes aos países do Norte global? Assim, a cena pop contemporânea parece refletir como os mal-estares do nosso tempo se manifestam e, especialmente, como o desejo das pessoas que habitam esse sofrimento é moldado diante dessas forças coloniais e imperialistas que se erguem.
A ideia, então, consiste em tomar o álbum do porto-riquenho como uma forma de aproximar-se do problema da colonialidade a partir de um enfoque de resistência a essa força dominante, enquanto o trabalho da espanhola parece situar-se numa posição de reconciliação moderna que só é possível ao anular a alteridade para ser aceita. Isso parte das declarações da própria Rosalía, que afirmou numa entrevista ser o oposto de Benito — o que levanta a questão sobre até que limite vai essa oposição.
Começando pela leitura sinthomática apresentada no título, o álbum de Benito assume desde o princípio uma posição política: sua capa manifesta um interesse direto em representar uma visão do que implica a latino-americanidade. A simplicidade de duas cadeiras de plástico numa floresta indica, desde o início, uma intenção de dirigir-se ao seu público com a afirmação de que existe uma cultura que me identifica e não vou habitar o mundo sem ela.
Bad Bunny se esforça por compreender sua música neste álbum como uma criação que surge do trópico — daí que as composições, entre sua própria voz, a música e as letras, tenham uma sujeira própria de todo processo de criação. Criar implica sujar-se, está marcado pelos materiais que se usam para dar forma à arte. Por isso, Benito recorre à terra e ao mar, próprios da ilha onde nasceu, para moldar um álbum capaz de criar identificação em toda a região (do México a Buenos Aires, incluindo os rizomas que crescem nos latino-americanos fora de seu território).
O álbum não busca a perfeição. Benito não procura a forma polida e imaculada, mas toma o que está rachado e tenta fazê-lo falar a partir da posição subalterna que teve que viver como sujeito colonizado por uma força imperialista como os Estados Unidos. A seu modo, Bad Bunny acolhe os estilhaços não para curá-los, mas para atravessá-los e dar-lhes representação — é isso que está presente em DtMF.
Aqui, o que se tem é uma forma de gozo inventada por Benito a partir de sua própria experiência como sujeito submetido, a qual se esforça para evitar a captura colonial por meio de um maximalismo estético, a fim de figurar subjetivamente modos de resistir a um contexto social e político em que a pessoa latino-americana é sinalizada como invasora.
Por isso é importante sua apresentação no Super Bowl, porque funciona como um grito de protesto a partir do interior do Norte global, algo que se torna até desafiante quando o artista pronúncia que “o melhor seria os estadunidenses aprenderem a falar espanhol”. O porto-riquenho toma o excesso como material para subverter a ordem homogênea que a força colonial gosta de manter. Não busca a exotização do latino-americano para entregá-lo ao consumo, mas leva o excesso até seu ponto máximo para que o próprio sistema transborde.
A lógica aqui presente é uma estética que busca escapar do ideal colonial do que um latino-americano, um subalterno, deveria ser. A seu modo, é um retorno daquilo que o imperialismo quis reprimir: um sujeito periférico que permanece ali, gozando em seu maximalismo e na miscelânea do seu ser a partir de um excesso que não é assimilável pela máquina colonial. DtMF encarna uma subjetividade periférica que não se submete a uma tentativa aberrante de apropriação de sua cultura e identidade; a estética do álbum não pretende ser harmoniosa, pura ou iluminada. Pelo contrário, encontra nos restos, na sujeira que sobra de se fazer algo com os materiais de uma obra — neste caso, a identidade latino-americana, especialmente a porto-riquenha —, uma possibilidade criativa de apresentar o mal-estar colonial exercido no mundo atual: transforma a ferida em arte para sustentar a voz dos submetidos. Daí que a única língua em que canta seja o seu espanhol, não importa a quem incomode.
Nesse sentido, o álbum funciona como um sinthoma, isto é, em termos lacanianos, aquilo que um sujeito inventa para poder fazer-se existir diante de um real que ameaça destruí-lo (diferente, portanto, do sintoma tradicional). Com DtMF, produz-se um nó singular diante de uma ferida colonial que segue pulsante e que busca legitimar uma posição de subalternidade por parte do imaginário dos Estados Unidos sobre a América Latina. É um esforço para desafiar o domínio por meio de uma resistência estética que apela a uma subjetividade que tem seu próprio modo de gozo, o qual não se encaixa na visão imperialista. Não busca iluminar ou ser perfeito, mas é consciente da sombra sob a árvore que sempre acompanha nós que habitamos a América Latina.
Agora, para aprofundar o oposto a DtMF, é preciso olhar para o álbum LUX de Rosalía. Se seguirmos a tese da espanhola, é preciso considerar que elementos de sua arte se opõem ao porto-riquenho, o que implica analisar o contraste sociopolítico por trás da obra da artista. Por um lado, LUX recorre a materiais diferentes: se DtMF vai à terra e ao mar, LUX limpa as mãos para ir ao mármore. Posiciona-se na luz para criar uma peça que não busca sustentar uma voz, mas superar um problema a todo custo.
Se DtMF funciona como um sinthoma no qual persiste um nó de distintos fenômenos para sustentar a voz daqueles que atravessam a ferida colonial, LUX representa outra posição subjetiva: um inocente esforço por superar o mal-estar por meio de uma transcendência estética, na qual a depuração da identidade se faz necessária para que exista a convivência.
LUX, ao se esforçar para reconciliar o sujeito com a ferida, acaba por legitimar a presença dos mal-estares coloniais dentro dele mesmo. No entanto, é preciso aprofundar um pouco mais essa ideia de mal-estar. Freud definiu o mal-estar como um choque irremediável entre as pulsões do sujeito e as exigências civilizatórias que lhe impõem uma renúncia ao prazer para poder funcionar no mundo. Rosalía se posiciona no plano civilizatório: é uma estética que tenta reconciliar um problema que não vai desaparecer nos sujeitos colonizados – os quais, só por aceitá-lo, não padecerão menos.
Isso se evidencia no próprio conceito do álbum. LUX apresenta uma estética sem conflitos, sem tensões: os opostos se harmonizam pacificamente, as antípodas são depuradas para encaixar, e o angelical assume protagonismo para sacralizar o conteúdo e torná-lo uno. O mal-estar aparece justamente aí: diante da crise colonial que se manifesta no mundo, propõe-se uma saída civilizatória na qual a alteridade cede em favor de uma reconciliação com o amo imperialista (estadunidense/eurocêntrico) que deseja a subalternidade dos colonizados.
Por outro lado, a sublimação estética de Rosalía em LUX cai na inocência de acreditar que superações não implicam conflito e resistência. Isso fica claro em sua pretensão de perfeição estética, que pole todas as arestas e homogeneíza ao máximo, deixando todo o álbum com um único e mesmo som sacro. Rosalía apresenta um trauma resolvido a todo custo: para além da dor ou da história, o sujeito deve elevar-se de forma transcendente para poder sobreviver. Aqui não há restos; tudo deve ser uno, perfeito e estilizado para se conservar.
Assim, surge a comodidade como elemento característico de LUX, visto que, diante da necessidade de superar o trauma, sua música oferece uma ilusão para tornar suportável o mal-estar que tal superação implica. O sujeito de LUX é um sujeito conciliado com o Norte global, e a música oferecida pelo álbum permite ignorar o retorno do reprimido, pois trata-se de uma estética da integração total com o Império. Por isso Rosalía canta com orgulho em 13 idiomas e não se preocupa em adaptar-se à pluralidade de vozes: não tenho problema em falar outra língua para oferecer conforto — eis a mensagem que LUX parece deixar a seu ouvinte. Rosalía tenta neutralizar um mal-estar, por isso sua música é sagrada, limpa e sem ruído; não acolhe a ferida, é preciso transcendê-la para ser melhor.
Portanto, o que se tem aqui é uma mostra de como o pop articula posições subjetivas diante da crise colonial. Benito construiu um álbum a partir de um sujeito periférico cujo afeto é residual, quebrado e sujo; um tipo de ser humano que não consegue ser metabolizado pelo imperialismo e que, por isso mesmo, insiste a partir do interior do Norte global numa tensão e num conflito com o mal-estar colonial, produzindo perturbações (a paranoia dos Estados Unidos com os imigrantes e a xenofobia galopante na Europa são exemplos dessas perturbações que surgem das tensões entre periferia e centro). Por sua vez, Rosalía busca a eliminação do conflito por todos os meios. Ela trabalha com um sujeito polido, limpo, cômodo e iluminado, que é visto pelo sistema como um sinal de maturidade e por isso é bem-recebido. Em LUX está presente uma estética própria do capitalismo tardio: não deve haver interferências que produzam interrupções na reprodução do capital.
Ambos os artistas não diferem artisticamente em relação ao conceito de seus álbuns, mas sim num conflito sobre o mundo possível diante do problema colonial. DtMF tem uma lógica de contradiscurso frente ao neoimperialismo que encarna o trumpismo, pois busca trazer o colonialismo reprimido à cena para sustentar esse sujeito que sofre com tal repressão, a fim de articular mundos possíveis a partir dessa mesma ferida. Já LUX oferece uma alternativa de transcendência que o mercado global demanda para sustentar a hegemonia do sistema. Por isso, Rosalía fala em ser “açúcar para o café”: porque deseja acomodar o diferente, em vez de compreender o que persiste por trás do aroma e do sabor daquilo que vive.
***
Juan David Almeyda Sarmiento é doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos. Membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise do Centro-Oeste (Latesfip-Cerrado)
LEITURAS PARA SE APROFUNDAR NO ASSUNTO

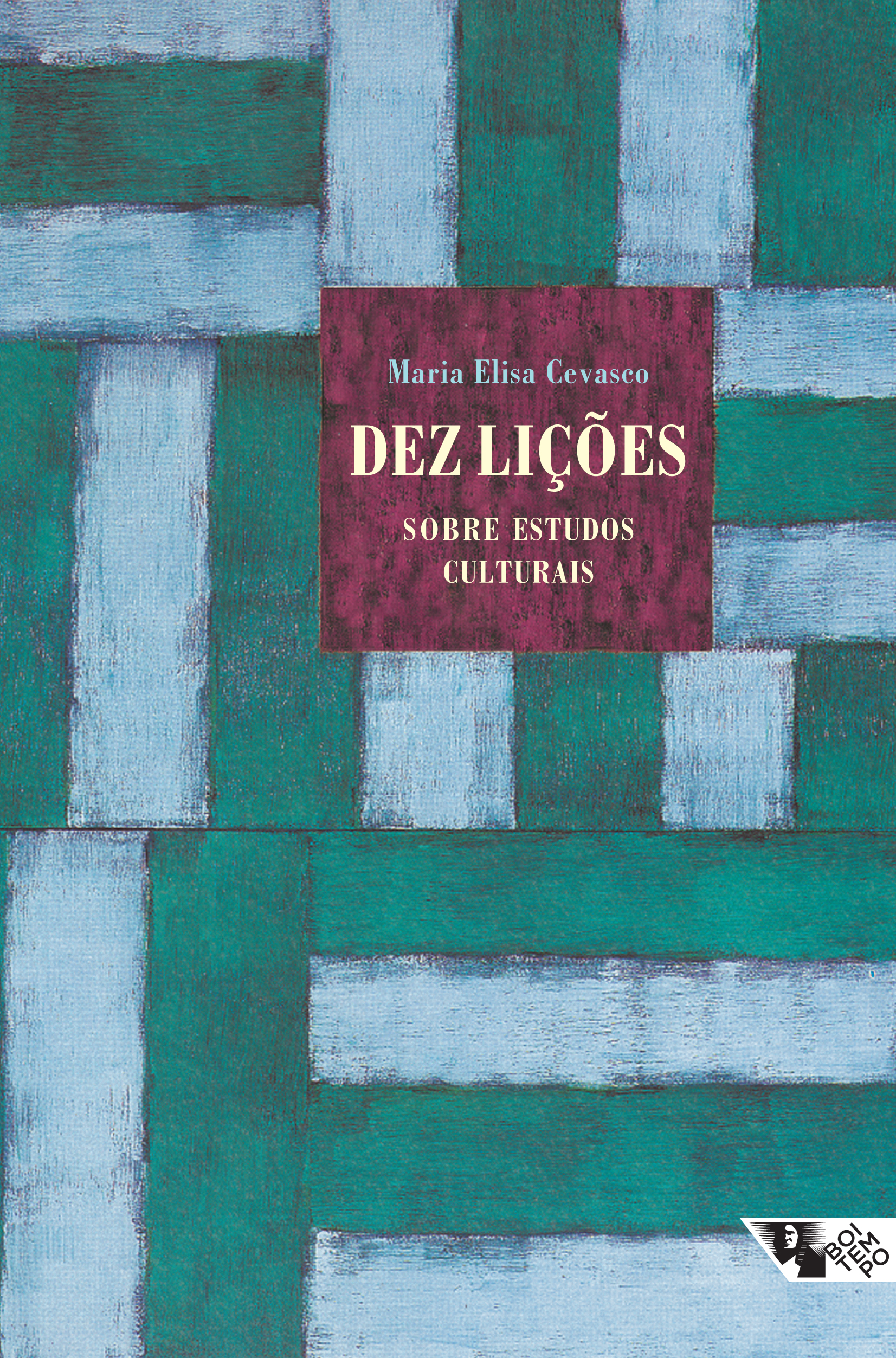
Imediatez: ou o estilo do capitalismo tardio demais, de Anna Kornbluh
O que a autobiografia de Michelle Obama, a onda de exposições artísticas imersivas e a série Fleabag têm em comum com a catástrofe climática, o sucateamento das universidades e a uberização do trabalho? Imediatez parte do gesto audacioso – e fora de moda – de propor uma chave mestra para diagnosticar o capitalismo contemporâneo.
Dez lições sobre estudos culturais, de Maria Elisa Cevasco
Mapeando a trajetória dos estudos culturais desde a Inglaterra dos anos 1950 até sua globalização, a autora reconfigura o entendimento da cultura na sociedade midiática. Redefine o que e por que estudamos cultura, buscando compreender e transformar a produção cultural para um mundo mais democrático.
Descubra mais sobre Blog da Boitempo
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.


A análise aqui colocada parte do pressuposto de que ambos os álbuns respondem ao mesmo mal estar, o que considero uma distorção. Bad Bunny sim trata do mal estar colonial, mas Rosalía trata do mal estar das relações de gênero e onde uma mulher pode encontrar consolo depois de traída e violentada pela pessoa que lhe é mais próxima: seu companheiro.
Outra distorção na análise é da frase atribuída à Rosalía, de que é o oposto do Bad Bunny, por ter feito questão de falar em várias línguas. Essa frase foi retirada de uma entrevista com o NYT, em que os entrevistadores (do nada) disseram que o Bad Bunny foi ao programa deles e disse que não se importava se as pessoas não entendessem as letras do álbum dele. A isso, ela respondeu que fez o oposto, porque ela gostaria que as pessoas prestassem atenção às letras do álbum e procurassem as traduções. Ela utilizou 13 línguas porque eram os idiomas nativos das mulheres em que ela se inspirou pra escrever as músicas.
Rosalía não tem nenhuma música inteiramente em inglês na carreira dela e nunca se dobrou à exigência dos americanos pra subir nas paradas musicais. Dizer que ela canta em 13 línguas, incluindo português, árabe e catalão, pra ser dócil perante os yankes não faz sentido algum, já que os americanos têm preguiça de pesquisar 2 idiomas, quanto mais 13.
Além disso, acredito que o exercício interpretativo em relação à música Berghein, da qual é retirada o trecho em que ela é doce como café e se desfaz, é extremamente mal compreendido. Ali ela tá se referindo às relações românticas com homens, como o comportamento da mulher é condicionado à entrega e como isso pode virar um pesadelo. Novamente, nada que se relacione ao trumpismo.
Estamos cientes que o Bad Bunny é porto-riquenho, portanto colonizado, e de que Rosália é espanhola e que isso os coloca em posições diferentes, apesar de também ser necessário ponderar que Rosália é catalã e, como sabemos, foi um povo massacrado pelos fascistas na guerra civil espanhola.
Falar de Lux sem falar de gênero é algo inócuo. Mulheres não tem a opção de, diante do mal estar do capitalismo tardio, violentar o gênero oposto e consumi-lo no frenesi expressado em DTmF. Respeito ambas as perspectivas artísticas e de expressão, o que não faz sentido pra mim é a análise.
CurtirCurtido por 1 pessoa